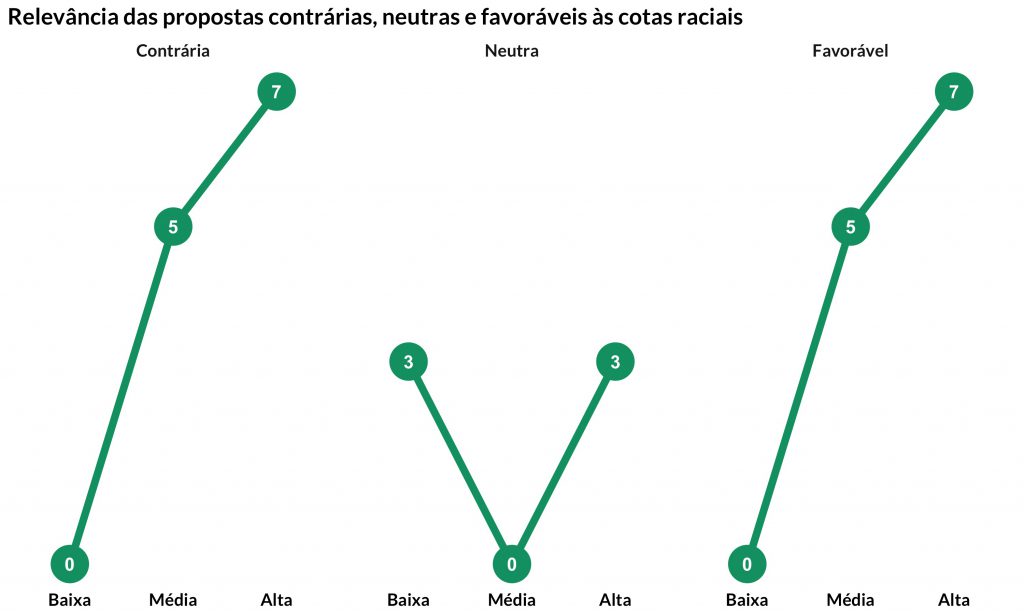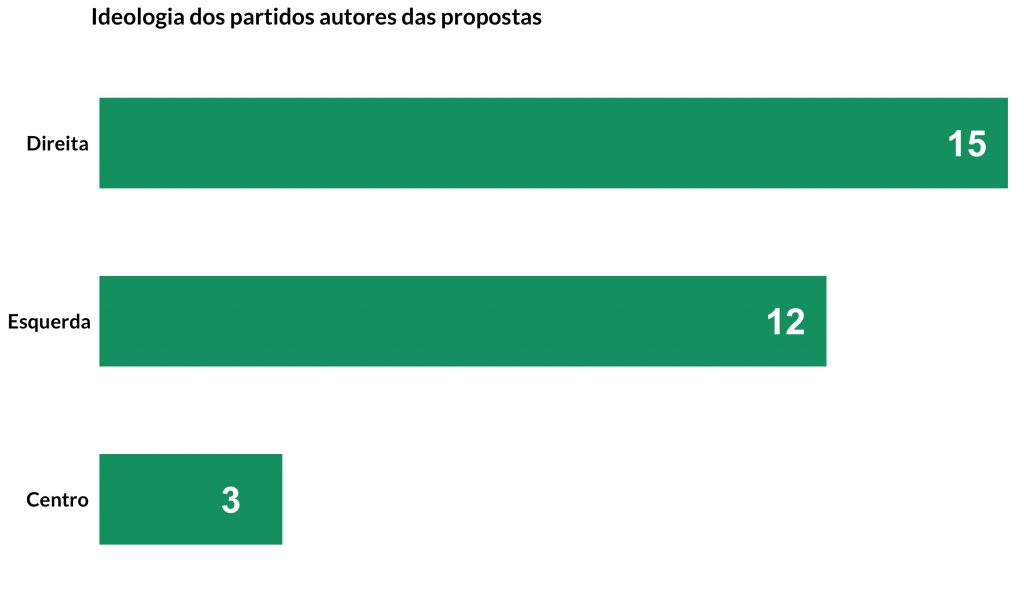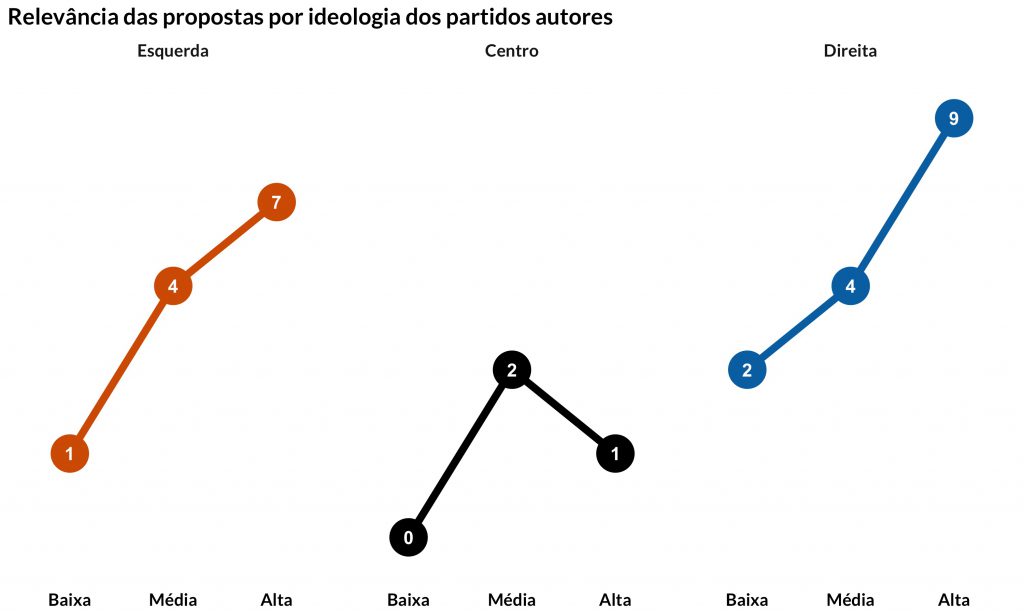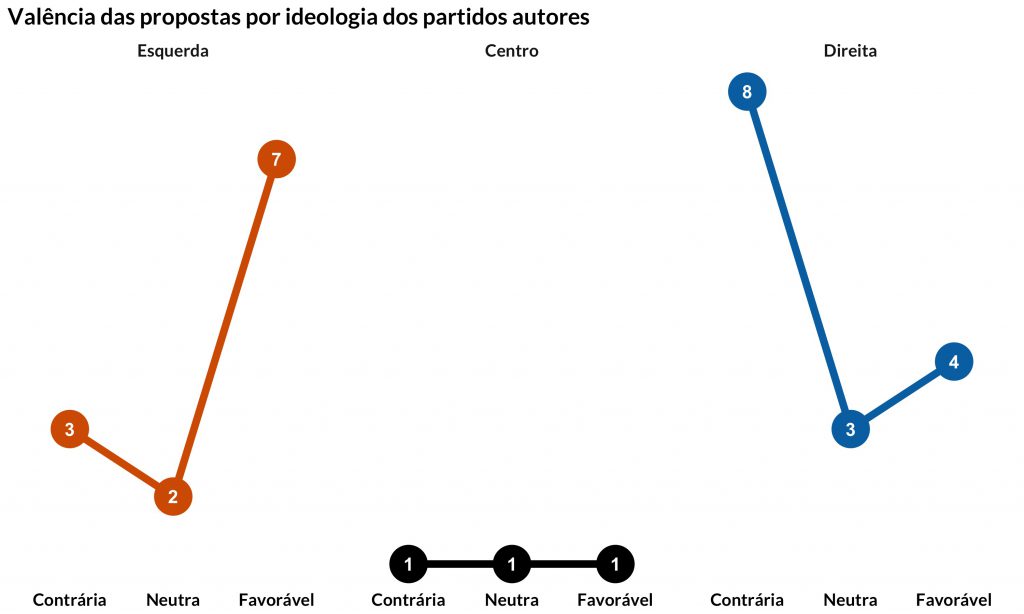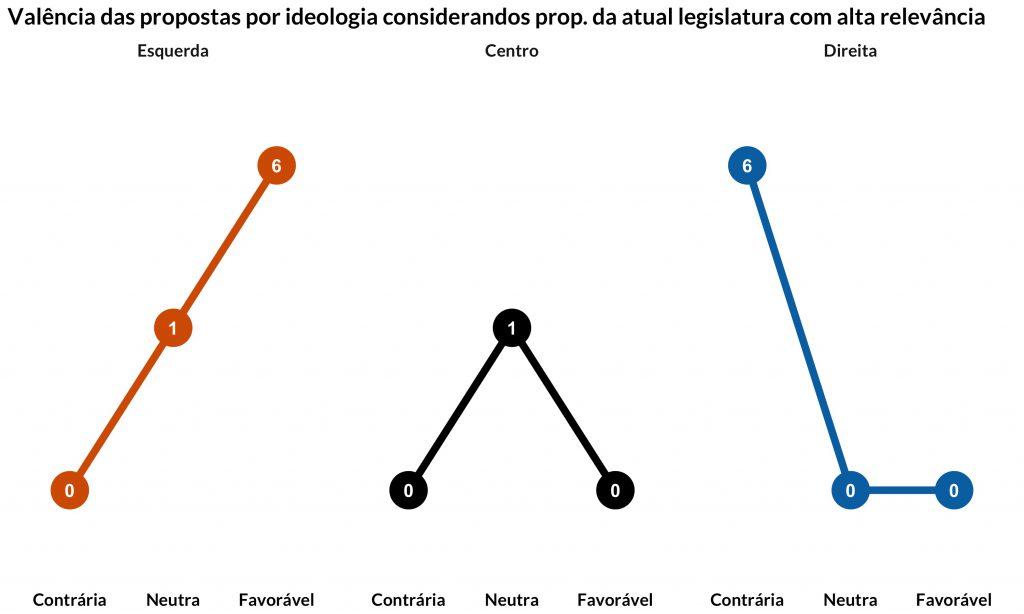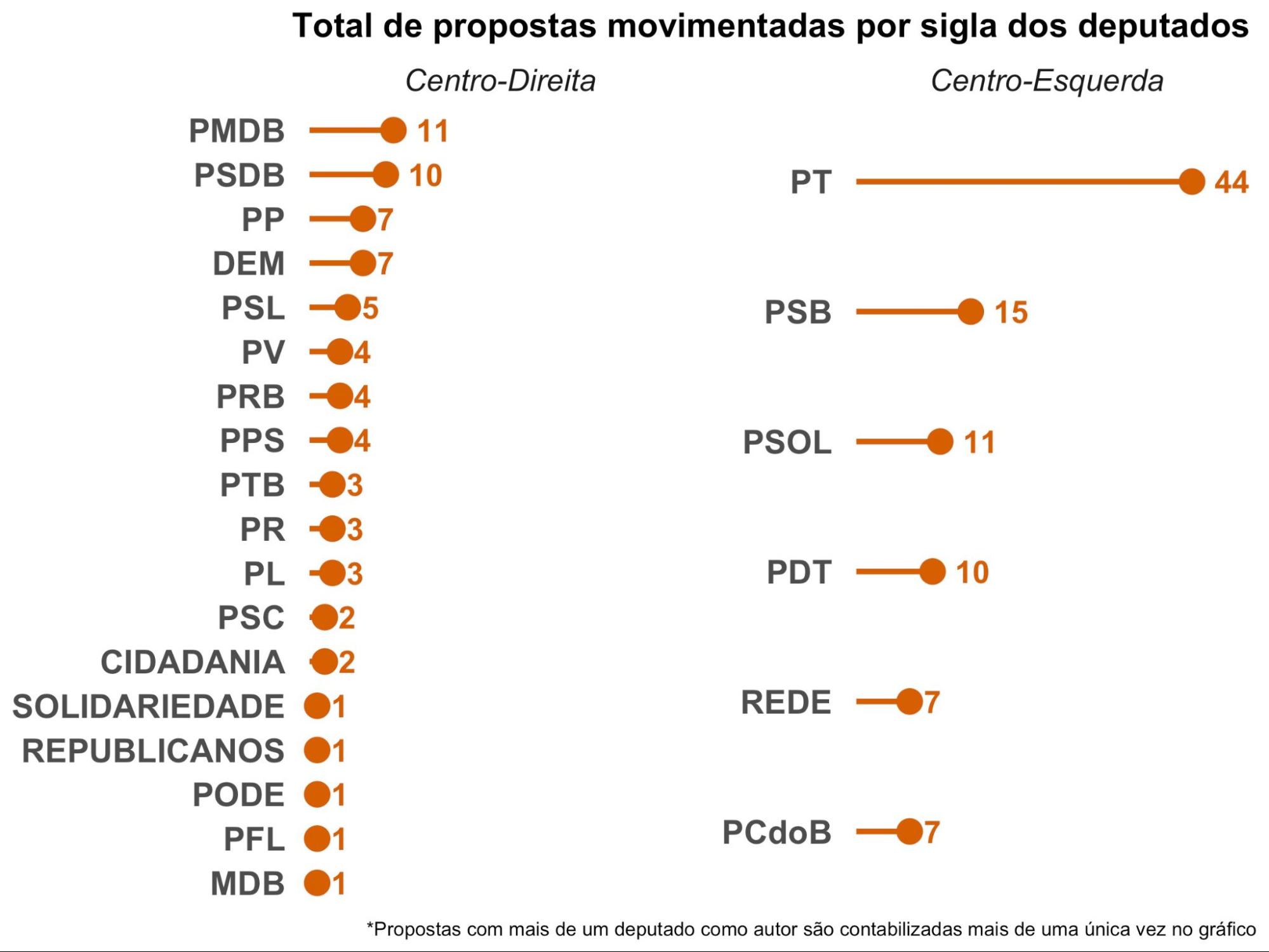Ciências Sociais Articuladas – Balanço de 2021 na Câmara dos Deputados: a gestão de Arthur Lira (PP)
Postado por OLB em 20/dez/2021 - Sem Comentários
Debora Gershon e Joyce Luz
1. Apresentação
No dia 1 de fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o apoio público do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), esperançoso de uma relação menos conflituosa com o parlamento. A aproximação efetiva de Bolsonaro ao Centrão (do qual o PP faz parte), desde meados de 2020, foi fator fundamental para a vitória de Lira contra o deputado Baleia Rossi (MDB), candidato do ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (sem partido). Do ponto de vista econômico, as agendas de ambos eram bastante próximas às preferências do governo. Politicamente, contudo, Lira prometia maior alinhamento em pautas de interesse do presidente em troca de mais controle na distribuição de recursos e cargos, ainda que mantivesse o tom, enfatizado por Maia ao longo do seu mandato, de independência política do Legislativo frente ao Executivo.
A consagração da vitória de Arthur Lira (PP) à presidência da Casa, portanto, criou expectativas com relação à natureza da agenda legislativa do ano. Em linhas gerais, esperava-se maior avanço das reformas estruturais mirando o enxugamento da máquina pública – tão ao gosto da agenda liberal que une as forças à direita do espectro político e supostamente importantes para a agenda eleitoral do presidente Bolsonaro em 2022 –, avanço moderado de pautas políticas conservadoras e maior ímpeto legislativo para aumento da participação dos deputados na alocação de recursos orçamentários (tendo em vista o perfil dos partidos que compõem o Centrão). Isso mesmo diante do prolongamento do uso do Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Câmara, instituído em decorrência da Covid-19, que impôs restrições institucionais formais à agenda do parlamento durante a pandemia, a exemplo da exigência de votação de projetos preferencialmente relacionados à crise sanitária. Em outras palavras, a despeito do SDR, a expectativa geral de alguns estudiosos e da mídia era a de uma produção da Câmara mais alinhada às preferências governamentais.
Depois de quase um ano de gestão, descobrimos que o prognóstico desenhado estava apenas parcialmente correto. A reforma administrativa foi praticamente engavetada, a tributária está em processo de aprovação a duras penas, com redução significativa do escopo das propostas iniciais, o Bolsa Família foi enterrado e substituído pelo programa Auxílio Brasil, cujo financiamento é ainda incerto, o voto impresso foi rejeitado e a participação do legislativo no planejamento orçamentário aumentou de forma significativa, discricionária e pouco transparente, a partir do uso deliberado das emendas de relator (o chamado “orçamento secreto”). É difícil mensurar, do ponto de vista qualitativo, se o saldo foi positivo para o Bolsonaro. Todavia, não faltaram esforços de Arthur Lira (PP) para dar prosseguimento às pautas mais caras ao governo e a seus aliados.
A gestão de Lira tem sido caracterizada por alto grau de centralização decisória, mesmo após a suspensão parcial do SDR, que resultou em maior concentração dos trabalhos legislativos nas figuras dos líderes e do presidente da Mesa, devido à suspensão do trabalho das comissões. Ao longo de sua gestão, Lira tem manejado o regimento interno de forma surpreendente, atropelando ritos, levando à votação projetos cujo teor não foi previamente compartilhado com os deputados, criando comissões especiais para encurtar o tempo de debate, substituindo comissões especiais por grupos de trabalho e amparando a aprovação de emendas de plenário em desacordo com as regras regimentais. O debate sobre a reforma eleitoral para 2022, que, ao fim e ao cabo, trará aspectos positivos para a competição em virtude da interdição da Câmara pelo Senado, é um exemplo nessa direção; a votação da PEC do Ministério Público é outro.
Além disso, Lira conduziu a Câmara à aprovação de uma nova reforma regimental ainda em maio de 2021. A Resolução 21/2021 modificou um conjunto de artigos legitimamente utilizados pela oposição para a obstrução das votações, alterando elementos centrais do debate e da deliberação (tempo das sessões, qualidade da comunicação, destaques e emendas). O resultado foi a eliminação de recursos protetivos e de barganha da minoria, com impacto negativo na amplitude da representação.
Para uma melhor avaliação quantitativa dos resultados da gestão de Lira ao longo de 2021, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) fez um balanço comparado do ano legislativo atual com o de 2020, considerando todas as proposições tramitadas no período. Visando garantir maior comparabilidade dos dados, optamos por um recorte temporal que se estende do início de fevereiro de 2020 ao final de outubro de 2021, já que, a partir de novembro deste ano, a Câmara voltou ao trabalho presencial pleno, com regras distintas daquelas previstas no SDR, em que não havia funcionamento das comissões e todo o trabalho legislativo estava sendo realizado de forma remota.
Analisamos, especificamente, o volume de matérias tramitadas, o volume e a natureza das proposições aprovadas, o tempo de tramitação das proposições e a taxa de apoio recebida pelo governo nas votações nominais na expectativa de captar diferenças específicas que marcaram as presidências de Rodrigo Maia (sem partido) e de Arthur Lira (PP).
O relatório se divide em sete sessões: panorama geral, proposições tramitadas por partido, distribuição das proposições movimentadas por tema, leis aprovadas em 2021, velocidade de tramitação, apoio ao governo e pontos de atenção.
2. Panorama: cresce o número de proposições movimentadas, com destaque para Propostas de Emenda à Constituição
No ano de 2021, 13.233 matérias tramitaram na Câmara contra 7.846 em 2020 – um crescimento de 68%. E isso mesmo levando em conta o fato de o recorte temporal definido não contabilizar os meses de novembro e dezembro de 2021.
Nos últimos dois anos, houve predominância absoluta de matérias tramitadas de iniciativa do Legislativo – de modo similar a outras sessões legislativas –, mas caiu, em 2021, a proporção de proposições movimentadas de autoria do Executivo. Em 2020, 2,4% do total de proposições tramitadas foram iniciadas pelo governo, contra 1,3% em 2021. Isso, no entanto, é provavelmente resultado direto do menor encaminhamento de projetos por parte do Executivo em 2021 (60 contra 130 em 2020).
É importante ressaltar que, dentre as proposições tramitadas no período, estão aquelas apresentadas nos anos de 2021, mas também outras iniciadas em 2019 e 2020 e até mesmo em legislaturas passadas. A proposta de reforma eleitoral votada na Câmara nos últimos meses, por exemplo, esteve amparada em projetos apresentados em 2011, 2015, 2019 e 2021. Essa é uma das razões pelas quais optamos por analisar matérias tramitadas no ano, mesmo que iniciadas em outros. Elas nos permitem traçar um quadro mais fidedigno da agenda negociada do Legislativo, tendo em vista que a tramitação de determinada proposta exige mais do que a sua apresentação, que pode ser um ato, inclusive, exclusivamente individual. Em 2021, a maior parte das proposições tramitadas foi iniciada em 2020. Em 2020, houve maior tramitação das propostas apresentadas no próprio ano.
Do ponto de vista dos tipos de projetos, considerados aqueles de maior importância no trabalho legislativo – Medida Provisória (MPV), Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Projeto de Lei Ordinária (PL) e Projeto de Lei Complementar (PLP) – a sessão legislativa de 2021 se distingue significativamente da de 2020 para além do fato de que houve aumento do número de proposições tramitadas.
Em 2021, por exemplo, houve queda de 35% na tramitação de MPVs e aumento de 122% no número de PECs movimentadas – esse aumento é muito maior do que aquele verificado para PLs e PLPs (70% e 57%, respectivamente).
3. Proposições por partido: maiores bancadas têm mais projetos tramitados
Quando avaliada a autoria dessas proposições, observa-se, naturalmente, que PT e PSL se destacam na autoria das proposições tramitadas. Isso porque são os partidos com maior número de assentos na legislatura, o que aumenta o volume total de projetos de iniciativa das bancadas, bem como sua capacidade de pressão sobre a pauta legislativa.
Se observada, no entanto, a proporção de projetos tramitados, considerado o tamanho de cada bancada, surpreende o baixo volume per capita de proposições tramitadas de alguns partidos do Centrão, com grande número de assentos, a exemplo do PL tanto em 2020 como em 2021. Partidos pequenos, ainda que excluídos aqueles cuja bancada não tem sequer 5 deputados, foram exitosos na movimentação de alguns dos projetos de sua autoria, a exemplo do Cidadania, do Podemos e do PCdoB.
4. Proposições movimentadas por tema: Saúde, Direitos e Humanos e Finanças e Orçamento dominam a agenda
A distribuição temática das proposições tramitadas na Câmara em 2021 é praticamente idêntica à de 2020. Dois fatores podem ser considerados a esse respeito. Em primeiro lugar, é bastante razoável supor que projetos tramitados em determinado ano continuem tramitando no seguinte. Do ponto de vista dos temas abordados, portanto, a diferença de um ano para o outro tende a ser marginal. Em segundo, a conjuntura socioeconômica nos dois anos é bastante semelhante. A concentração dos trabalhos legislativos em proposições relativas à Saúde, Direitos Humanos e Minoria e Finanças Públicas e Orçamento provavelmente responde ao quadro pandêmico enfrentado desde 2020. No ano passado, quase 58,5% das proposições tramitadas tratavam desses três temas. Em 2021, essa proporção caiu para 52,1%. A pequena queda, inclusive, na proporção de projetos financeiros e orçamentários movimentados em 2021 pode ser justificada pela exclusão metodológica dos projetos tramitados no mês de novembro, geralmente mais dedicado a tratar questões com impacto nas finanças e no orçamento da União.
5. Leis aprovadas em 2021: aumenta o número de leis e cai a participação do governo
Dentre as matérias movimentadas nos anos de 2021 e 2020, 71 e 61 foram transformadas em lei, respectivamente – uma ínfima parte do total de tramitadas em cada ano, ainda que haja reconhecimento de que a transformação de uma proposta em norma jurídica depende, também, de trabalho realizado no Senado e não exclusivamente na Câmara. Se consideradas somente as matérias aprovadas no plenário da Câmara, o resultado ainda assim é semelhante. Foram 153 em 2021 contra 140 em 2020.
Apesar da predominância do Legislativo na autoria das matérias examinadas, boa parte das leis aprovadas resultam de projetos iniciados pelo Executivo, devendo ser ressaltado que essa não é uma singularidade desta legislatura, mas um dado recorrente do período pós-redemocratização. No entanto, diferentemente do que se esperava no começo da gestão de Arthur Lira (PP), as leis aprovadas em 2021, comparativamente às de 2020, têm menor participação do governo – 23% contra 44%, uma queda significativamente maior do que aquela verificada na proporção de matérias movimentadas de sua autoria. Novamente, o quadro não é muito diferente quando avaliado o desempenho exclusivo da Câmara – ao contrário, a participação do governo diminui ainda mais.
Assim, a despeito da menor iniciativa legislativa do Executivo, a gestão de Lira não aumentou o “carimbo” do governo na agenda aprovada pelas duas casas. Há uma hipótese alternativa, cuja checagem permitiria compreender mais profundamente o cenário – a de que em legislativos presididos por aliados, parte da agenda governamental é aprovada por meio de projetos do próprio legislativo. De qualquer modo, enquanto a teoria política nos ajuda a entender que, em geral, o trâmite, não explícito, da agenda governamental requer capacidade de coordenação do Executivo, a conjuntura nos permite observar que, de 2020 para 2021, os avanços em termos de coordenação, pelo Planalto, da bancada governista na Câmara foram marginais.
Com relação aos tipos de proposições que viraram leis, observa-se pequeno acréscimo de Propostas de Emenda Constitucional (PEC), a despeito do grande aumento de proposições desse tipo tramitadas ao longo do ano.
Nesse caso, no entanto, a avaliação das proposições aprovadas no plenário da Câmara, mas não transformadas em lei revela esforço maior da Casa em mudar a Constituição. O resultado, portanto, pode indicar interdição do Senado, que não aprova as propostas encaminhadas pela Câmara ou, ao menos, não as aprova na mesma velocidade.
Os temas das novas normas jurídicas acompanham, em geral, a distribuição observada no total de matérias tramitadas, embora em 2021 tenha havido foco maior em Saúde e em 2020 em Finanças e Orçamento.
Em 2021, PT, PV, DEM, PP, PCdoB e PSB foram os partidos que mais assinaram proposições de iniciativa do Legislativo transformadas em lei. Em 2020, destacaram-se PP, PSDB, PSL, Cidadania, DEM e MDB. Nesses dois anos, contudo, há uma dispersão da autoria por diversos partidos.
6. Velocidade de tramitação: pequeno acréscimo no tempo médio comparativamente a 2020
Com o objetivo de verificar se a gestão de Lira (PP) resultou em tramitação mais célere das proposições legislativas, avaliamos também o tempo médio, medido em dias, observado entre o primeiro dia da movimentação dessas proposições no ano de referência e a sua primeira discussão no plenário. Ou seja, a despeito de um projeto ter tramitado em outras legislaturas, o ponto zero definido neste estudo é a sua primeira nova movimentação nos anos de 2020 e 2021 para análise do tempo médio de tramitação nesses dois anos, respectivamente.
Isso nos fornece uma proxy do ritmo do trabalho empreendido por Lira e por Maia, ainda que, para efeito de cálculo, não considere que proposições com tramitação mais avançada tendem a andar, de fato, mais rapidamente. Uma solução possível para esse problema seria incluir na análise apenas os projetos efetivamente iniciados em cada ano. Nesse caso, contudo, perderíamos de vista que a agenda prioritária anual da Câmara nem sempre dialoga com os projetos apresentados naquele ano. Não é usual que um projeto chegue ao plenário na mesma sessão legislativa em que foi apresentado.
Os resultados dessa investigação, consideradas as ressalvas que essa escolha metodológica exige, revelam pouca diferença no ritmo de tramitação de diferentes proposições entre 2020 e 2021. Na gestão de Lira (PP), na verdade, houve acréscimo do tempo médio de movimentação de propostas iniciadas por deputados e acréscimo marginal no tempo médio de andamento da agenda proposta pelo Executivo.
A avaliação do tempo médio de tramitação para cada tipo de proposição legislativa de maior interesse resulta em conclusão semelhante, destacando-se um tempo maior de tramitação das PECs, o que pode ter relação com o número mais elevado de propostas desse tipo tramitadas em 2021.
7. Apoio ao governo: Lira não entrega o esperado, mas o governo mantém alta taxa de apoio na Câmara
Para medir o apoio ao governo nas votações de 2021, comparativamente a 2020, optamos por selecionar somente os projetos em cuja votação nominal houve orientação de voto por parte da liderança do governista. Em seguida, analisamos, exclusivamente para esses casos, a proporção de apoio do plenário à preferência manifesta do governo.
Com essa opção, pretendemos analisar as proposições teoricamente mais caras ao Planalto, considerada a premissa de que votações mais importantes exigem, em geral, algum grau de coordenação. É importante ressaltar que, com essa escolha, não desconsideramos que possa ser estratégico para o governo não apresentar, em plenário, a sua posição formal quando há risco de derrota, mas também quando há certeza de vitória. Ainda assim, essa é uma proxy que apresenta três vantagens: inclui iniciativa na mensuração; não superestima o apoio conferido ao governo por considerar votações que, na verdade, não lhe são importantes, e não elimina do cálculo o apoio por ele recebido mesmo quando há votações mais consensuais, o que significa que consideramos que o governo pode receber apoio quase unânime da Casa como resultado da sua própria articulação.
De acordo com essa metodologia, a taxa de apoio ao governo na gestão de Lira foi de 74%, muito próxima à observada em 2020, durante o mandato de Rodrigo Maia (76%). Não houve, portanto, aumento sistemático no apoio ao governo em 2021, conforme esperado inicialmente, embora as taxas sejam bastante altas nos dois anos.
Também ao longo dos dois anos, há variação mensal dessa taxa de apoio ao longo do ano – de 68% a 83% em 2021 e de 69% a 99% em 2020. Em 2021, portanto, o cenário é, inclusive, sensivelmente pior para o Planalto, especialmente no mês de outubro.
8. Pontos de destaque
- A despeito da manutenção do SDR em grande parte do ano de 2021, cresceu o número de proposições tramitadas na Câmara, especialmente o de Propostas de Emenda Constitucional. A autoria das proposições tramitadas é majoritariamente do Legislativo, mas o Executivo, tal qual observado nos últimos anos, é responsável por boa parte das proposições que viram leis.
- Partidos com bancadas maiores naturalmente assinam mais projetos movimentados em função de sua vantagem numérica e da maior capacidade de negociação decorrente dessa vantagem. Ainda assim, alguns partidos pequenos conseguem negociar suas agendas, de modo que elas sejam movimentadas, a exemplo do PCdoB e do Podemos, enquanto alguns partidos maiores apresentam um resultado aparentemente aquém das suas possibilidades, a exemplo do PL.
- Os temas Saúde, Direitos Humanos e Minorias e Finanças e Orçamento expressam grande parte da agenda legislativa movimentada e aprovada durante a gestão de Arthur Lira (PP), mas também de Rodrigo Maia (sem partido). O enfrentamento da pandemia é uma das razões explicativas desse quadro.
- Sob o ponto de vista do tempo médio de tramitação das proposições, as gestões de Arthur Lira (PP) e Rodrigo Maia (sem partido) também se assemelham, não havendo tramitação mais célere sequer das propostas do governo em 2021.
- O apoio da Câmara ao governo em 2021 também é bastante semelhante ao observado em 2020, o que significa que o alto grau de centralismo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP), conforme observado no dia a dia dos trabalhos legislativos, não foi suficiente para aumentar a adesão dos deputados e deputadas federais às preferências do Planalto de maneira sistemática. Ainda assim, o governo tem garantido apoio majoritário às suas preferências em matérias específicas e, portanto, ao fim e ao cabo, aprova a sua agenda, ainda que com maior ou menor facilidade.
- Lira (PP) tem sido considerado um presidente forte da Câmara e surpreende que, na sua gestão, alinhada desde o começo ao Palácio do Planalto, o governo tenha enfrentado derrotas importantes. A queda mais expressiva do apoio ao Planalto em outubro de 2021 pode ajudar a entender parte do problema. Para além da instabilidade da coalizão governista, formada essencialmente por partidos do Centrão, e para além do fato de que Lira, diferentemente de Maia, não tem posição ideológica firme para defender pautas liberais à revelia da pressão do governo, o próprio centralismo do presidente da Câmara dificulta as articulações. O “ultrapresidencialismo” legislativo, no médio prazo, esfacela acordos, diminui a disposição para a composição de interesses e incentiva as lideranças partidárias à mobilização de seus poderes regimentais de veto. Nesses últimos meses de trabalho, Lira tem enfrentado maior resistência à sua liderança. O governo sofre por extensão, ao passo que são mantidos, senão majorados, os já altos custos de manutenção da sua base.
Ciências Sociais Articuladas – O Congresso e a Revisão da Política de Cotas
Postado por OLB em 17/dez/2021 - Sem Comentários
Apresentação
Em 2022, a Lei Federal 12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas, completa 10 anos. A lei garante a reserva de 50% das vagas, em instituições de ensino superior e técnico vinculadas ao Ministério da Educação, a estudantes oriundos da escola pública. Essa reserva, por seu turno, se divide, meio a meio, entre estudantes de renda familiar per capita inferior a 1,5 salários-mínimos e superior a essa marca. Dentro de cada um desses subgrupos se aplica uma reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas na proporção de sua participação na população da unidade federativa na qual a instituição é localizada. Além disso, estipulou revisão dessa regra após 10 anos. O prazo, portanto, se encerra em 2022, embora o Congresso Nacional esteja discutindo a possibilidade de prorrogar a política até 2032. A proposta está contida no substitutivo do relator, deputado Fábio Trad (PSD-MS), ao PL 1.788/2021, que tramita em caráter terminativo pelas comissões da Câmara e atualmente está aguardando parecer do relator na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM).
O momento para discutir a revisão e a eventual prorrogação da lei de cotas não poderia ser mais desafiador. Os dez anos de sua vigência demonstraram cabalmente que as previsões catastróficas feitas pelos opositores dessas políticas, como o baixo desempenho acadêmico dos cotistas e o aumento do conflito racial nas universidades, entre tantas outras, eram infundadas. A política de fato resultou em uma efetiva e qualificada democratização do ensino superior brasileiro. Contudo, houve nos últimos anos um crescimento expressivo da direita no país e no Congresso e o tema das cotas têm o potencial de se tornar, mais uma vez, uma bandeira dessas forças políticas em seu esforço de se diferenciar da esquerda progressista.
Diante desse cenário, o OLB realizou uma análise sobre como o tema vem sendo tratado na Câmara dos Deputados, com o objetivo de melhor entender os desafios que a revisão da Lei 12711/21 enfrentará nessa casa. Para isso, levantamos as proposições indexadas com o termo “Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades”, movimentadas na atual legislatura. A maior parte das proposições identificadas a partir desse critério foi apresentada em 2019 – primeiro ano da legislatura. Uma das proposições é mais antiga, data de 2015, e também foi inserida na amostra da análise. Contamos com a equipe de pesquisadores do GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa) para codificar o material de acordo com a valência e relevância e, adicionalmente, discriminamos a autoria de acordo com ideologia partidária.
O tema das cotas na atual legislatura: relevância e valências das proposições
Um total de 34 proposições sobre a Lei de Cotas foram apresentadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2021. Destas, 19 são da atual legislatura e 30 sofreram alguma movimentação nesse mesmo período. Ou seja, apenas quatro proposições sobre a Lei de Cotas foram apresentadas e não foram movimentadas desde 2019. Por essa razão, elas foram retiradas do universo de análise deste relatório. Isso denota maior interesse da atual legislatura para legislar sobre o assunto, bem como seu ímpeto em tramitar as proposições de sua própria autoria.
Gráfico 1 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas apresentadas por ano
Adicionalmente, a maioria absoluta das proposições movimentadas é muito relevante para o tema (17 das 30), enquanto apenas três foram classificadas com baixa relevância. Se considerarmos apenas as 19 proposições iniciadas na atual legislatura, 14 têm relevância alta, ao passo que outras quatro têm relevância média e apenas uma baixa. A relevância das proposições está relacionada com o intuito dos legisladores em reformar, abolir ou renovar a Lei 12.411/12.
Gráfico 2 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e relevância
Ao considerarmos a valência da proposta, a distribuição aparece mais equilibrada. Das 30 proposições, 12 (40%) apresentam teor favorável ao princípio da Lei de Cotas (apoiando o aprofundamento ou a manutenção da legislação) e 12 (40%), teor contrário (propondo extingui-la ou modificá-la em pontos centrais). Apenas seis são neutros. Esse resultado sinaliza uma disputa polarizada e acirrada entre perspectivas de revisão da legislação.
Gráfico 3 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por valência
A polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis se mantém quando selecionamos apenas as proposições apresentadas na atual legislatura. São nove favoráveis versus sete desfavoráveis. Aqui, contudo, nota-se o esforço das bancadas favoráveis à Lei de Cotas em preservar e/ou avançar em relação às regras vigentes.
Gráfico 4 – Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e valência
Por fim, ao cruzarmos as propostas segundo os critérios de relevância e valência, é possível observar que a maior parte tanto das propostas contrárias, quanto das favoráveis, é relevante para o tema. Em cada um dos casos, sete de 12 proposições (58%) foram classificadas com alta relevância.
Gráfico 5 – Relevância das propostas por valência
Posicionamento ideológico: partidos de esquerda dominam a agenda positiva
Ao classificarmos os partidos dos autores das proposições segundo um critério ideológico, é possível observar como o conflito parlamentar se organiza com relação ao tema. Inicialmente, sublinhamos que tanto partidos de esquerda quanto os de direita se engajam na temática. Das 30 proposições movimentadas, 12 são de autoria de parlamentares de partidos de esquerda (40%) e 15 (50%) de parlamentares de direita, com ambos os campos apresentando projetos de alta relevância. Ou seja, desde que surgiu no Brasil, a partir do começo da década de 2000, a Lei de Cotas tem sido um marcador da divisão do espectro político-ideológico entre esquerda e direita.
Gráfico 6 – Ideologia dos partidos autores das propostas
Como vemos no gráfico abaixo, não é somente a concentração numérica das proposições que se concentra nos pólos, mas também a tendência a apresentar propostas que alteram significativamente a política em questão, ou seja, de alta relevância.
Gráfico 7 – Relevância das propostas por ideologia dos partidos autores
Se concentrarmos a análise na atual legislatura, esse padrão de disputa se repete. Cada um dos grupos de partido, o de direita e o de esquerda, apresentou nove proposições desde 2019.
Gráfico 8 – Propostas por legislatura e ideologia dos partidos autores
Do ponto de vista da valência, das 12 proposições de autoria de partidos de esquerda, sete são favoráveis (58%) e três são contrárias (25%). Inversamente, das 15 proposições de autoria de partidos de direita, oito são contrárias (53%) e quatro são favoráveis (26%).
Gráfico 9 – Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (geral)
O recorte das proposições apresentadas na atual legislatura reforça ainda mais essa tendência. De sete proposições oriundas de partidos de esquerda, seis são favoráveis e nenhuma contrária. Das seis autoradas por partidos de direita desde 2019, todas são contrárias. Ou seja, a polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis à Lei de Cotas se alinha expressivamente ao posicionamento divergente de partidos de direita e esquerda, respectivamente.
Gráfico 10 – Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (atual legislatura)
Cabe notar que as proposições contrárias oriundas da direita se distribuem em uma variedade de partidos políticos, dentre eles o PSL, PRB, DEM e PSC. No campo da esquerda, destacam-se PT, PCdoB, PSB e PSOL.
Pontos de atenção
- Em que pese a competição com outros temas importantes e urgentes na agenda legislativa do país, a revisão da Lei de Cotas está no radar dos parlamentares. No momento, a proposta de prorrogação do atual marco legal, por meio do substitutivo ao PL 1788/21, é a saída que parece congregar maior apoio na Câmara dos Deputados, mas a tramitação ainda está longe de ter sido concluída e merece monitoramento atento dos movimentos sociais e de outros grupos e organizações que defendem a manutenção da atual política.
- O tema das ações afirmativas continua a ser um marcador da divisão entre esquerda e direita, e isso se reflete claramente na atuação dos parlamentares da atual legislatura.
- Nesse sentido, as agendas de partidos de direita e de esquerda são relevantes para a definição dos rumos das políticas de ação afirmativa em instituições de ensino, mas seguem direções distintas. Partidos de esquerda com posicionamento significativamente mais favorável e de direita com posicionamento majoritariamente contrário.
- O cenário na Câmara hoje, contudo, permite observar que a disputa sobre o tema, do ponto de vista das proposições movimentadas, não indica vencedores. Há equilíbrio no volume de proposições quando considerada a sua relevância e valência. É fundamental, portanto, acompanhar a movimentação dessas agendas com a devida atenção.
Lista de projetos.
Ciências Sociais Articuladas – Reforma eleitoral: as mudanças aprovadas e o código eleitoral em construção
Postado por OLB em 17/dez/2021 - Sem Comentários
Apresentação
Nos últimos seis meses, o Congresso tem se debruçado sobre propostas de reforma eleitoral. Como ocorre sistematicamente no Brasil em períodos pré-eleitorais, as revisões legais atendem principalmente ao cálculo político dos atuais mandatários, tendo em vista a competição nas urnas que se avizinha. Neste ano, contudo, o escopo das alterações propostas e as escolhas políticas que determinaram a forma e velocidade de sua tramitação na Câmara dos Deputados causaram espanto e apreensão. Cinco projetos dominaram a cena na casa: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 135/2019 (voto impresso); a PEC 125/2011 (mudanças no sistema eleitoral); o Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021 (código eleitoral); e os Projetos de Lei (PL) 2522/2015 (federações partidárias) e 1951/2021 (reserva de vagas para mulheres na Câmara) – os dois últimos de autoria do Senado. Dessas cinco proposições, apenas uma não teve tramitação concluída, o PLP que cria o código eleitoral.
O presente relatório sintetiza as principais mudanças recentemente produzidas na legislação eleitoral e se debruça sobre o código eleitoral, já aprovado na Câmara, mas não no Senado, com os objetivos de identificar as principais questões nele propostas e de obter informações relevantes sobre um futuro posicionamento do Senado sobre o assunto. Para cumprir essa segunda tarefa, identificamos e analisamos todos os discursos e tweets de senadores e senadoras com menção ao termo “código eleitoral” e ao “PL 112/2021”. No primeiro caso (discursos), a coleta de dados se estendeu de primeiro de janeiro a final de setembro de 2021. No segundo, de primeiro de junho a final de setembro de 2021 – período de temperatura mais alta do debate na câmara baixa. O resultado desse estudo revela que, a despeito do ímpeto da Câmara e dos apelos do seu presidente, Arthur Lira (PP), para aplicação do novo código já em 2022 – o que exigiria sua aprovação até um ano antes das eleições – o Senado não mobilizou esforços sequer para discutir ou repercutir o assunto.
O relatório está dividido em quatro seções, além desta apresentação: reforma eleitoral aprovada, controvérsias na Câmara e contenção do Senado; principais mudanças previstas no código eleitoral; temperatura do debate sobre o código entre senadores(as); e pontos de atenção.
Reforma aprovada, controvérsias na Câmara e contenção do Senado
O debate sobre reforma eleitoral na Câmara foi eivado de controvérsias e o resultado pode ser lido como uma derrota pontual para dois presidentes – o do país, Jair Bolsonaro (sem partido), e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).
Apesar dos muitos temas tratados – quase todos com grande impacto na estrutura da competição eleitoral brasileira – em prazos curtíssimos, sem qualquer transparência e participação social, o resultado não foi nem de longe aquele esperado pelo grupo político que conduziu os trabalhos com foco nas eleições de 2022.
O plenário da Câmara derrubou o voto impresso (PEC 135/2019), além do Distritão e do voto preferencial para presidente (partes da PEC 125/2011), enquanto o Senado manteve a atual proibição de coligações para cargos proporcionais, antes revertida no plenário da Câmara. Com a derrubada das coligações, a Câmara aprovou o projeto do Senado que permite a criação de federações partidárias (Pl 2522/2015) – coligações que exigem atuação parlamentar coordenada e reprodução da aliança em todos os níveis federativos e pleitos por, no mínimo, quatro anos. Diferente do voto impresso, a federação, no entanto, não era uma proposta defendida pelo governo. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro tratou de vetar a proposta, considerada uma saída para a sobrevivência de pequenas legendas de esquerda, como o PCdoB, mas o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso.
Em 2022, portanto, serão poucas as novas regras eleitorais, nenhuma das quais abertamente desejada pelo governo. Os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos(as) negros(as) para a Câmara serão contabilizados em dobro para efeito de distribuição dos fundos partidário e eleitoral, não havendo dupla contagem caso o(a) candidato(a) preencha as duas condições (a regra valerá até 2030). Vale ressaltar que não houve aprovação pela Câmara da reserva de cadeiras para mulheres (projeto já aprovado no Senado), em função das divergências quanto ao percentual específico a ser reservado.
Outra mudança realizada diz respeito à fusão partidária. Pela nova regra, as sanções eventualmente aplicadas aos órgãos regionais e municipais do partido incorporado não serão estendidas ao partido incorporador.
Por fim, presidente e governadores eleitos em 2022 encerrarão os seus mandatos nos dias 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente, passando a ser essas as novas datas de posse para os cargos citados. Ao fim e ao cabo, a proposta de reforma eleitoral tal como imaginada pelo grupo de Arthur Lira (PP-AL) foi completamente desidratada. Ainda assim, a dinâmica de trabalho da Câmara no debate sobre o código eleitoral colocou em risco a credibilidade do processo legislativo e, por conseguinte, à própria democracia, particularmente no que toca à condução feita pela presidência de Lira (PP-AL).
Já sem chances de ser aplicada nas eleições de 2022, pois ainda não apreciado pelo Senado, a proposta de novo Código Eleitoral (PLP 112/2021) foi aprovada no plenário da Câmara no dia 16 de setembro, na forma de substitutivo da relatora, Deputada Margareth Coelho (PP), com enorme atropelo do processo legislativo.
Não bastasse a mudança regimental recente que diminuiu de forma expressiva a capacidade da minoria intervir na agenda legislativa, alguns ritos formais, que emprestam previsibilidade e confiança ao processo, foram sumariamente descartados, a saber: a) admitiu-se regime de urgência ao projeto, a despeito da vedação regimental para matérias relativas a códigos; b) discutiu-se o projeto em grupo de trabalho, embora regimentalmente ele devesse ter sido debatido no âmbito de uma comissão especial; c) deturpou-se o processo de emendamento em plenário, com apresentação de emendas aglutinativas com texto novo, desconsiderada a regra de que emendas dessa natureza (as quais, por sinal, não podem mais ser apresentadas pela minoria desde a reforma do regimento interno da Câmara) devem ser usadas exclusivamente para aglutinar textos já existentes, com redação semelhante às emendas originárias; d) e optou-se pela nova votação (e aprovação), via emenda, de matéria rejeitada ao longo da própria votação do projeto.
Remetido ao Senado, no dia seguinte a essa conturbada aprovação, o projeto aguarda parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sem que haja qualquer sinalização de que será votado pelos(as) senadores(as) no curto prazo.
O Senado tem operado uma certa contenção de matérias polêmicas aprovadas na Câmara, onde o apoio ao Planalto é mais forte. Além de ter vedado o retorno das coligações partidárias aprovado na Casa, conforme mencionado anteriormente, rejeitou também a Medida Provisória (MPV) 1045/2021, transformada em uma danosa minirreforma trabalhista por deputados e deputadas federais, e recentemente devolveu ao governo a MPV 1062/2021, que dificultava a remoção de conteúdos sensíveis de redes sociais. Espera-se que o código eleitoral seja mais um exemplo nessa direção e que seja modificado nos pontos que pioram o processo eleitoral.
Principais mudanças previstas no novo Código
O novo Código Eleitoral chegou ao Senado com 898 artigos, divididos em 23 livros, que tratam, dentre muitos temas, de normas eleitorais, estrutura do sistema eleitoral, partidos políticos, direitos e deveres dos eleitores, organização e fiscalização das eleições, financiamento de campanha, campanhas, propaganda política, pesquisas eleitorais e crimes eleitorais. A proposta tem por objetivo reunir todas as leis e resoluções eleitorais em um mesmo compilado, mas também altera, de forma expressiva, um conjunto de regras vigentes. Das mudanças pretendidas, destacam-se aquelas relativas ao financiamento e fiscalização de partidos políticos, elegibilidade e quarentena eleitoral, caixa dois, pesquisas eleitorais, propaganda partidária e regulação das eleições via Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No que diz respeito ao financiamento público partidário, o novo Código flexibiliza o uso de recursos e a fiscalização de gastos. Atualmente, as verbas do fundo partidário são utilizadas exclusivamente para manutenção da estrutura do partido. Com o novo Código, poderão ser usadas para quaisquer despesas de interesse das legendas, de acordo com a deliberação da sua direção.
Do ponto de vista da fiscalização das contas, há expressivo esvaziamento do papel da Justiça Eleitoral, uma vez que se permite às legendas contratar auditoria privada para avaliação de suas contas em substituição ao TSE. Além disso, a nova proposta reduz o valor das multas em caso de rejeição de contas, diminui o prazo para prescrição de processos sobre o assunto (de 5 para 3 anos) e revoga a inelegibilidade decorrente dessa rejeição. Há também mudanças em outros fatores que hoje tornam um candidato/político inelegível. Políticos cassados ou que renunciam ao mandato para evitar cassação, por exemplo, hoje são inelegíveis por oito anos. Se aprovado o novo código sem alteração, essa sanção será extinta. Do mesmo modo, candidatos condenados após deferimento de suas candidaturas poderão permanecer na disputa. Trata-se, portanto, de um afrouxamento da Lei do Ficha Limpa, aplicada no Brasil desde as eleições de 2012.
Há novidade, ainda, no que diz respeito aos critérios de elegibilidade. A partir de 2026, integrantes das forças de segurança e do judiciário – particularmente juízes, policiais, militares e membros do Ministério Público – terão que cumprir uma quarentena antes das eleições – precisarão deixar os seus cargos quatro anos antes de ingressar na carreira política. Nas eleições de 2018, vale ressaltar, as forças de segurança aumentaram expressivamente a sua participação na Câmara, motivo pelo qual esse trecho do novo código foi objeto de idas e vindas em plenário. Ao fim, a matéria foi aprovada e representou derrota pouco usual da chamada “bancada da bala” e êxito da tese de que a “militarização e a judicialização” da política trazem riscos importantes à democracia.
Sobre caixa dois, o Código o qualifica como crime, estabelecendo pena de 2 a 5 anos de reclusão, mas também permite que tal pena seja descartada na dependência do valor em questão.
Destacam-se ainda mudanças relativas a pesquisas eleitorais e propagandas políticas. O novo código proíbe a divulgação de resultados das pesquisas nas 72 horas antecedentes às eleições, sob a justificativa de que tais resultados podem influenciar o pleito – um enorme retrocesso na tarefa de garantir informação ao eleitor. Além disso, está prevista a obrigação para empresas e institutos de divulgar suas taxas de acerto, uma medida vaga e estranha aos métodos das pesquisas de opinião, que não têm natureza preditiva. No que toca a propagandas políticas, há retomada das inserções partidárias dos partidos em TV e rádios em período não eleitoral e permissão para manifestação de apoio a candidatos em templos, igrejas e universidades.
Por fim, o novo código impõe restrições à regulação das eleições pelo TSE, passando a exigir que a aplicação das resoluções do Tribunal respeite o mesmo princípio da anualidade eleitoral imposto ao Congresso. Embora, nos últimos anos o TSE tenha assumido uma postura vanguardista, reduzindo, por exemplo, a assimetria entre brancos e negros e homens e mulheres na competição política, a nova proposta devolve ao parlamento uma tarefa que lhe é exclusiva – a de legislar – inclusive com o objetivo de reduzir as incertezas em períodos eleitorais.
Temperatura do debate sobre o código entre senadores(as)
Exemplo da distância que hoje separa as agendas da Câmara e do Senado, o tópico do código eleitoral mobilizou muito pouco os senadores até agora. De janeiro a setembro de 2021, somente 4 discursos sobre o assunto foram proferidos na casa. Nos últimos 3 meses, 31 postagens foram feitas no Twitter dos senadores e senadoras, das quais 22 de um único partido – Podemos. O senador Álvaro Dias (Podemos) foi responsável por 20 desses 22 tweets.
Das 31 postagens de senadores(as), apenas 4 (duas do PSD e duas do MDB) são meramente informativas, sem juízo de valor sobre a votação do código na Câmara. As demais tecem críticas focadas nas seguintes questões: flexibilização da Lei da Ficha Limpa, flexibilização das regras de distribuição de recursos aos partidos, mudança no sistema de prestação de contas, e , majoritariamente, quarentena para magistrados se candidatarem às eleições. O senador Álvaro Dias é um dos autores do mandado de segurança impetrado contra a tramitação do código sob a alegação de descumprimento do devido processo legislativo (debate em comissão, sem regime de urgência). É ele também um entusiasta da candidatura à presidência da República, pelo seu partido, do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Gráfico. Postagens no Twitter de senadores(as) sobre código eleitoral
Pontos de atenção
- O debate sobre a reforma eleitoral na Câmara foi caracterizado por uma série de atropelos do processo legislativo e pela ausência de transparência e participação social.
- Contrariando as expectativas de parte da bancada governista e, particularmente, de Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, as mudanças nas regras para as eleições de 2022 restringiram-se a mudar data de posse do presidente e de governadores; a disciplinar casos de fusão partidária; a contabilizar votos em dobro para mulheres e negros para efeitos de distribuição partidária; e a permitir a criação de federações partidárias. Nos dois últimos casos, as mudanças são mais relevantes. A contagem em dobro de votos de mulheres e negros(as) constituirá incentivo expressivo para investimento dos partidos na diversidade de suas candidaturas. Já a criação das federações, embora permita a sobrevivência de partidos pequenos, programáticos e de longa tradição política no Brasil, e possa funcionar como transição para um futuro quadro de fusões, constitui brecha para que as legendas que não elegeriam candidatos sozinhas continuem conquistando cadeiras com o auxílio de outras. No entanto, a obrigatoriedade de a aliança se reproduzir em todas as esferas federativas e perdurar por ao menos quatro anos diferencia a proposta das famigeradas coligações e não altera a reforma de 2017 de modo tão substantivo.
- O processo legislativo que caracterizou a aprovação do Código Eleitoral na Câmara foi semelhante ao estabelecido para discutir os demais projetos da reforma eleitoral, embora com atropelo regimental aparentemente maior.
- O código impõe mudanças expressivas na legislação eleitoral hoje vigente, com destaque para redução do papel da Justiça Eleitoral em sua competência fiscalizatória. Esse aspecto, no entanto, não foi objeto de divergências importantes na Câmara. As postagens de senadores nas redes sociais também pouco fazem menção a essa questão. Os tweets sobre o assunto são majoritariamente do Podemos e tratam particularmente da quarentena para magistrados. O partido tem a expectativa de filiar o ex-juiz Sérgio Moro para lançá-lo como candidato a presidente em 2022.
- O Senado não aparenta disposição para votar o código no curto-prazo. Não há razão para que a Câmara siga pressionando, já que está descartada a possibilidade de aplicação das novas regras nas próximas eleições.
- É de se esperar, no entanto, que o Senado reproduza o embate verificado na Câmara dos Deputados, entre defensores e detratores da Lava Jato e da militarização da política.
Mudanças Climáticas: o que diz o ranking de comportamento parlamentar
Postado por OLB em 26/set/2021 - Sem Comentários
Júlio Canello, Leonardo Martins Barbosa
1. Apresentação
O atual governo brasileiro tem sido apontado como responsável pela adoção de políticas contrárias à proteção ambiental e, por consequência, à prevenção e mitigação das mudanças climáticas. O cenário é ainda pior tendo em vista a posição estratégica ocupada pelo Brasil nessa agenda, particularmente devido à centralidade da preservação da floresta amazônica. O retrocesso verificado no âmbito do poder executivo confere papel central ao Congresso e, portanto, à atividade de incidência parlamentar – tarefa desafiadora diante de uma legislatura conservadora e afeita às pautas retrógradas do bolsonarismo.
Em 2019, a Câmara dos Deputados aprovou uma revisão do código florestal, que felizmente não avançou no Senado Federal. É provável que não seja igual o destino de outras proposições tão ou mais danosas à pauta ambiental, como é o caso do PL da grilagem e o PL do licenciamento ambiental, duas matérias também já aprovadas na Câmara e que aguardam apreciação na Casa Alta. Para o bem ou para o mal, o Congresso ocupa lugar central no debate ambiental do país. Conhecer melhor o comportamento parlamentar nessa agenda é tarefa urgente para o movimento ambientalista, tendo em vista não apenas o desafio da incidência parlamentar, mas também as eleições de 2022.
Com isso em mente, a equipe do Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), em parceria com a organização Política por Inteiro, elaborou um ranking de comportamento parlamentar no tema mudanças climáticas, para a atual legislatura da Câmara dos Deputados. O ranking é baseado em um indicador de engajamento parlamentar, ou seja, mede tanto a valência do comportamento – se é favorável ou desfavorável à causa ambientalista – quanto a intensidade do engajamento – ou seja, o quanto um/a parlamentar efetivamente se envolve em atividades legislativas em proposições sobre o tema. Quanto mais próxima de 10 a nota do(a) parlamentar, mais ele(a) atua favoravelmente ao tema. Quanto mais próxima de -10, mais ele(a) atua de forma desfavorável.
Na primeira seção, apresentamos os resultados gerais do ranking. Na segunda, cruzamos os resultados com o comportamento partidário. Na terceira, localizamos as bases eleitorais dos parlamentares em melhores e piores colocações. Na quarta, analisamos a composição da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de outras frentes parlamentares a partir das notas do ranking.
2. Resultados gerais
A maior parte dos parlamentares apresentou uma nota negativa no tema das mudanças climáticas, como indica o gráfico abaixo. A nota média é de -1.39 e a mediana da Câmara é de -2.97 (indicada pela linha vertical tracejada). A distribuição revela que, se arredondamos as notas, os valores de maiores frequências são -4, -3 e 4. Isso sugere a existência de um grupo com atuação positiva e, outro, mais numeroso, com atuação negativa.
Gráfico 1. Distribuição dos parlamentares por nota
Sexo e raça pouco distinguem as notas dos parlamentares de maneira muito expressiva. As figuras abaixo mostram a distribuição dos valores para estas variáveis e revelam poucas diferenças nas curvas. Ainda que parlamentares não brancos apareçam em maior quantidade com notas mais altas quando comparados aos/às demais, o número de deputados(as) com valores negativos no ranking é bastante expressivo mesmo nesses grupos. Quanto ao sexo, embora a predominância no lado negativo da escala seja comum, parlamentares homens estão mais claramente concentrados nessa região. Já parlamentares mulheres se distribuem mais uniformemente ao longo do lado positivo da escala, sendo que obtêm notas superiores a 5 com maior probabilidade do que homens.
Gráfico 2. Distribuição das notas por raça
Gráfico 3. Distribuição das notas de acordo com o sexo
3. Divisão partidária
A variável que se mostrou mais significativa foi indubitavelmente a partidária. Pertencer a determinado partido explica 70% do comportamento parlamentar analisado na Câmara na temática Mudanças Climáticas. Em outras palavras, identificar o partido de determinado/a parlamentar é a melhor forma de se prever seu comportamento sobre o tema.
Gráfico 4. Distribuição das notas partidárias
O gráfico 4 mostra a distribuição dos parlamentares de acordo com legenda partidária e nota. Na figura, cada ponto mostra a nota de um parlamentar, enquanto as áreas em verde indicam a distribuição de notas para cada legenda. Os partidos com desempenho mais favorável ao tema são PSOL, Rede, PCdoB, PT e PV. Embora PSB e PDT apresentem médias também positivas, há maior dispersão, com alguns nessas bancadas, apresentando notas próximas a zero ou mesmo negativas. A situação contrasta, por exemplo, com aquela de parlamentares petistas, que aparentam grande coesão no tema. Os partidos com piores notas, por sua vez, são o Novo, o Solidariedade, o PL e o Republicanos. Podemos destacar ainda o PP, cujos parlamentares, como os do PSL, parecem ter um comportamento bastante coeso sobre o tema.
Não obstante, há parlamentares cuja atuação se desvia de maneira significativa do que seria de se esperar, considerada sua filiação partidária. É o caso, por exemplo, de Benes Leocádio (Republicanos-RN), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Eduardo Braide (Pode-MA), Bia Kicis (PSL-DF) e Rodrigo Agostinho (PSB-SP), com notas melhores do que as esperadas em função de seus partidos. Inversamente, Rosana Valle (PSB-SP), Silvia Cristina (PDT-RO), Paulo Bengtson (PTB-PA) e Rodrigo Coelho (PSB-SC) tiveram desempenho pior do que o esperado em função do comportamento do seu partido.
Gráfico 5. Distribuição de notas por campo político
O padrão de distribuição de notas mostra uma divisão clara entre partidos de esquerda, que tendem a apresentar uma atuação mais favorável à pauta ambiental, e partidos de centro-direita, em geral contrários à mesma. Com a divisão adotada são 402 deputados(as) de direita e 137 de centro-esquerda, sendo a média de notas, respectivamente, -3.17 e 3.84.
4. Fronteira agrícola: região estratégica
Ao analisarmos a distribuição das notas por estados, não vemos em nenhum deles uma concentração especial de parlamentares com atuação favorável ou desfavorável. Mesmo quando separamos parlamentares por região do país, ou quando distinguimos aquelas eleitas por estados da Amazônia Legal dos demais, não há diferença sistemática. No entanto, quando olhamos para as “pontas” do ranking, ou seja, quando selecionamos apenas os 30 parlamentares de atuação mais positiva e os 30 de atuação mais negativa, verificamos uma distribuição desigual do apoio eleitoral.
O mapa 1 apresenta as bases eleitorais dos 30 parlamentares mais bem posicionados no ranking. O destaque vai para uma região de concentração de votos no norte de Minas e outros estados do Nordeste. Há, ainda, apoio menor e mais disperso em parte da região Norte. O destaque, contudo, vai para a dispersão da votação desses congressistas.
Mapa 1. Bases eleitorais dos 30 parlamentares mais favoráveis
No mapa 2, em que apresentamos a distribuição do apoio eleitoral aos 30 parlamentares com piores notas no ranking, é possível observar um padrão geográfico importante: há uma concentração do apoio eleitoral a esses parlamentares em regiões de maior força do agronegócio e, especialmente, da fronteira agrícola da Amazônia Legal. Assim, observamos concentração de apoio principalmente no estado do Mato Grosso, no norte do Pará, e, em menor grau, nos estados de Rondônia e Roraima. Também o estado de Goiás, região mais antiga de expansão da fronteira agrícola no cerrado, apresenta focos importantes de apoio eleitoral a esses parlamentares.
Mapa 2. Bases eleitorais dos 30 parlamentares mais contrários
5. Comissões permanentes e frentes parlamentares relevantes
As notas do ranking também foram usadas para avaliar como parlamentares de diferentes comissões e frentes parlamentares da Câmara dos Deputados encontram-se engajadas positiva ou negativamente em relação ao tema. Como se sabe, as comissões permanentes exercem papel estratégico no processo legislativo, uma vez que nelas as proposições pertinentes à cada área temática recebem parecer, em geral após um ciclo de audiências e discussões envolvendo não apenas a assessoria da casa, mas também setores interessados da sociedade civil. Embora haja a possibilidade de uma proposição ser enviada diretamente ao plenário, as comissões podem ter papel decisivo para acelerar, postergar ou modificar as proposições legislativas. Em alguns casos, podem até decidir terminativamente pela aprovação de um projeto.
A tabela 1 contém estatísticas básicas do plenário da Câmara e de algumas das comissões mais ligadas ao tema do meio ambiente e das mudanças climáticas, considerando apenas seus titulares. Com esse enfoque temático, examinandos a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento da Região Amazônica (CINDRA) e a Comissão de Minas e Energia (CME). Analisamos também a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), de importância central para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos.
Tabela 1. Estatísticas descritivas de comissões
| Comissão |
Nº de Parlamentares |
Nº com notas + |
Média |
Mediana |
Desvio Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenário |
540 |
156 (29%) |
-1,39 |
-2,97 |
3,75 |
| CMADS |
18 |
7 (39%) |
-1,5 |
-3,6 |
5,7 |
| CCJC |
66 |
19 (29%) |
-1,3 |
-3,2 |
3,7 |
| CAPADR |
46 |
8 (17%) |
-2,5 |
-3,5 |
3,8 |
| CINDRA |
17 |
7 (41%) |
-0,7 |
-2,7 |
4,7 |
| CME |
40 |
9 (22%) |
-2,0 |
-3,2 |
3,7 |
As notas médias das comissões são muito próximas daquela do plenário, ou seja, contabilizando todos os parlamentares presentes no ranking. Apenas na CINDRA a nota média é melhor do que a de plenário. O parlamentar mediano é aquele localizado precisamente no meio de uma determinada distribuição de notas. Ou seja, para se formar uma maioria absoluta (50% + 1) em determinado grupo de parlamentares, o mediano deverá estar incluído. Nas comissões em que a nota mediana é pior do que a do plenário, é mais fácil que se formem maiorias parlamentares contrárias ao tema das mudanças climáticas. É o caso de todas as comissões, exceto a CINDRA.
A distribuição das notas por comissão também varia bastante. Na CCJC, comissão mais importante da Câmara com um número muito alto de parlamentares, 66, a distribuição fica muito próxima à do plenário, como podemos vislumbrar no gráfico 6.
Gráfico 6. Distribuição das notas CCJC e Plenário
Já na Comissão de Agricultura, em que pese o também alto número de membros, 46, há um enviesamento negativo da distribuição das notas. Ou seja, a comissão se mostra um destino prioritário para atores engajados negativamente na agenda de mudanças climáticas, conforme se pode notar no gráfico 7.
Gráfico 7. Distribuição das notas CAPDR e Plenário
É curioso notar, entretanto, que o inverso não ocorre quando destacamos a Comissão de Meio Ambiente. No gráfico 8, vemos que a comissão é, na verdade, formada especialmente por parlamentares pouco engajados em proposições que dizem respeito às mudanças climáticas, sejam eles contrários ou favoráveis à agenda. O número pequeno de parlamentares, quando comparado às principais comissões, é indicativo de que a CMADS não é considerada estratégica pelas principais lideranças da Câmara, sendo relegada a um segundo plano. O resultado é indicativo também de que o tema do meio ambiente sofre competição de outras pautas na agenda progressista, não sendo, portanto, sempre objeto de atenção prioritárias das lideranças, mesmo nesse campo, mesmo levando em conta que os partidos de esquerda obtém notas médias bem mais favoráveis que os de direita, como mostramos anteriormente.
Gráfico 8. Distribuição das notas CMADS e Plenário
Realizamos exercício semelhante considerando as distribuições de notas nas frentes parlamentares pertinentes ao tema. A tabela 2 apresenta esses resultados, acrescidos, novamente, daqueles referentes ao plenário.
Tabela 2. Estatísticas de frentes parlamentares
| Frente Parlamentar |
Nº de deputados |
Nº com notas + |
Média |
Mediana |
Desvio Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenário |
540 |
156 (29%) |
-1.39 |
-2.97 |
3.75 |
| Ambientalista |
269 |
108 (40%) |
-0.4 |
-2.2 |
4.1 |
| em Defesa da Amazônia |
216 |
40 (18%) |
-2.4 |
-3.4 |
3.3 |
| Mista da Energia Limpa e Sustentável |
211 |
39 (18%) |
-2.4 |
-3.4 |
3.3 |
| da Agropecuária |
260 |
41 (16%) |
-2.5 |
-3.3 |
2.9 |
| em Defesa da Amazônia e do seu Povo |
44 |
17 (38%) |
-0.3 |
-1.5 |
3.2 |
| Mista em Defesa da Energia Alternativa |
127 |
45 (35%) |
-0.7 |
-2.5 |
3.4 |
| da Energia Renovável |
111 |
37 (33%) |
-0.9 |
-2.5 |
3.4 |
| Mista da Agropecuária |
100 |
12 (12%) |
-2.3 |
-3.1 |
2.3 |
Das oito frentes investigadas, apenas quatro apresentaram notas médias melhores relativamente das do plenário, mas ainda assim negativas: a Frente Parlamentar Ambientalista, em defesa da Amazônia e de seu Povo, a Mista em Defesa da Energia Alternativa, e, por fim, a da Energia Renovável. Isso é um indicativo de que as frentes disputam a agenda, mas não têm sido responsáveis por promover avanços no combate às mudanças climáticas.
Conclusão
Os resultados do ranking mostram uma Câmara dos Deputados fundamentalmente avessa à agenda das mudanças climáticas e um leque de desafios a serem enfrentados pelos movimentos e organizações ligados ao tema, dos quais listamos dois prioritários. Em primeiro lugar, embora haja importantes lideranças engajadas no tema, ele é muitas vezes dividido com outras agendas do campo progressista. Ainda faltam na Câmara lideranças que considerem o tema das mudanças climáticas sua agenda prioritária. Em segundo lugar, verificamos uma concentração de parlamentares favoráveis ao tema em partidos de esquerda. É importante que o tema seja também debatido e ampliado para além de um grupo que é hoje minoritário.
Apesar de serem possíveis alguns esforços para mudar esse cenário já na atual legislatura, é importante se ter em mente que o período eleitoral constitui momento estratégico de ação política. Nesse sentido, é interessante notar que os parlamentares mais engajados negativamente no tema têm uma forte base eleitoral na fronteira agrícola da Amazônia Legal, principalmente no Pará e no Mato Grosso, acrescidos ainda do estado de Goiás. É importante que sejam direcionados esforços em municípios chaves dessa região, para politizar mais o tema no debate público e promover novas lideranças que ofereçam competição alternativas políticas mais alinhadas à agenda de combate às mudanças climáticas.
Metodologia
Para a elaboração do ranking das Mudanças Climáticas foram analisadas 22 proposições que tratam sobre o tema e tiveram ao menos uma atividade legislativa durante a legislatura de 2019-2021. Essa amostra de projetos compreendeu um total de 22 pareceres, 236 emendas, 884 discursos e 24.250 votos. As proposições foram selecionadas em conjunto com a Rede de Advocacy Colaborativo, por intermédio da parceria com a organização Política por Inteiro. No total, o Ranking atribui notas para 540 parlamentares.
Para complementar a análise, extraímos e processamos dados do Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados e do Repositório de Dados do Tribunal Superior Eleitoral, que foram posteriormente pareados por meio dos números de CPF dos e das parlamentares. Por conta dessa origem, é importante notar que os dados de classificação de cor/raça utilizados nas análises, bem como de escolaridade, foram auto-reportados pelos e pelas parlamentares. Para calcular as estatísticas descritivas que reportamos nos gráficos, utilizamos o ambiente de programação estatístico R.
Alguns dos gráficos que reportamos no texto exibem funções de densidade, isto é, a probabilidade de que um ou uma parlamentar tenha dado score; valores mais altos indicam que há mais parlamentares com determinado score, e vice-versa.
Ciências Sociais Articuladas – O debate sobre o Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados
Postado por OLB em 24/set/2021 - Sem Comentários
1. Apresentação
Passados quase três anos de mandato, sucessivas pesquisas eleitorais mostram um forte desgaste de Jair Bolsonaro no eleitorado. Diante desse cenário, restam ao presidente poucas cartas na manga para reverter esse cenário até outubro de 2022, quando muito provavelmente tentará a reeleição. Uma delas é a tentativa de reformular o programa Bolsa Família – uma das marcas mais características dos governos petistas e a que muitos atribuem a resiliente popularidade do ex-presidente Lula – de modo a ampliar o número de famílias beneficiárias e o valor a elas destinado. O entorno do presidente acredita que o programa poderá não apenas minar o apoio eleitoral de seu principal adversário, como aumentar a popularidade do atual mandatário, de modo a torná-lo mais competitivo em 2022.
Com esse intuito, o Planalto editou a Medida Provisória (MPV) 1061/21, instituindo novo programa social, denominado Auxílio Brasil. A medida exata dos efeitos do novo programa, no entanto, ainda depende de algumas variáveis cruciais. A mais importante delas é o valor orçamentário a ser destinado ao novo programa, que, por seu turno, depende do destino da reforma tributária e do projeto de emenda constitucional (PEC) dos precatórios, com os quais o governo conta para liberar espaço no orçamento.
Apesar do evidente aspecto eleitoreiro, o Auxílio Brasil surge no momento em que o tema da renda mínima volta a ser discutido em muitos países, na esteira dos danos sociais provocados pela pandemia da Covid-19 e do diagnóstico de que o avanço da desigualdade pode estar na raiz das crises políticas sofridas mesmo em países tidos até há pouco como democracias consolidadas. No Brasil, o novo programa foi formulado principalmente no âmbito do Ministério da Economia, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, diante da inoperância das pastas sociais do gabinete de Bolsonaro.
O objetivo deste relatório é apresentar em linhas gerais a MPV 1061/21 e analisar como o tema tem repercutido na Câmara dos Deputados.
2. A Medida Provisória (MVP)
O programa Auxílio Brasil foi instituído pela MPV 1061/21 e, como o Bolsa-Família, é um programa de transferência de renda mediante condicionalidades. O novo programa inclui o benefício da primeira infância, o benefício da composição familiar e o benefício de superação da extrema pobreza. Como no Bolsa-Família, estão previstos benefícios a famílias em condição de extrema pobreza e, em alguns casos, em condição de pobreza. Para que as famílias sejam incluídas nessa segunda categoria, no entanto, elas devem ter em sua composição gestantes ou membros com idade entre 0 e 21 anos incompletos. Nesse sentido, o novo programa distingue-se do Bolsa-Família, no qual apenas famílias em condição de pobreza com adolescentes entre 0 e 17 anos estariam elegíveis. As definições de extrema pobreza (renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa) e de pobreza (renda mensal entre R$ 89,00 e R$178,00) permanecem as mesmas. As condicionalidades entre os dois programas também são bastante semelhantes, e incluem acompanhamento de saúde e frequência escolar mínima para seus beneficiários, tendo em vista, principalmente, o desenvolvimento infantil.
Além dos benefícios básicos – que constituem o núcleo do programa, o Auxílio Brasil prevê também:
- Auxílio Esporte Escolar e a Bolsa de Iniciação Científica Júnior – destinados a estudantes, integrantes das famílias beneficiárias, que se destacarem em competições de jogos escolares brasileiros e competições acadêmicas e científicas nacionais, respectivamente;
- Auxílio Criança Cidadã – concedido a famílias que atendam às condições previstas no regulamento, com o objetivo de garantir acesso da criança a creches da rede privada, regulamentadas ou autorizadas, que ofertem educação infantil (os chamados “vouchers” da educação, controversos por sinalizarem desfinanciamento público);
- Auxílio inclusão produtiva rural – destinado temporariamente a agricultores familiares, com contrapartida de doação de alimentos;
- Auxílio de inclusão urbano – destinado a beneficiários do programa que comprovem vínculo de emprego formal; e
- Benefício Compensatório de Transição – que pretende compensar as famílias que tiverem perdas financeiras em função da transição do Bolsa Família para o novo programa.
A MP 1061 também cria o Programa Alimenta Brasil, que substitui o atual Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) criado em 2003 para incentivo à agricultura familiar, sem aparente mudança de escopo. A nova faceta do programa retrata parcialmente a narrativa de que o Bolsa-Família não propiciava “portas de saída”. Ainda não está claro, no entanto, como o novo acompanhamento funcionará, nem os detalhes de sua operacionalização. A promessa do governo, no entanto, é aumentar o valor do auxílio em pelo menos 50%.
3. O debate no Congresso
Com o intuito de analisar como o novo programa do governo Bolsonaro, alardeado desde o final de 2020, tem repercutido na Câmara dos Deputados, levantamos os discursos proferidos em plenário, de fevereiro até o final de agosto de 2021, em que eram mencionados os termos “auxílio brasil”, “renda cidadã”, “renda mínima” e “bolsa família”. Os discursos foram divididos em dois grupos. O primeiro, envolve todos os quatro termos. O segundo, mais restrito, inclui apenas os dois primeiros, que referem-se especificamente a programas desenhados, ou imaginados, pelo governo Bolsonaro.
Quando consideramos o conjunto geral de discursos, ou seja, aqueles que contém pelo menos um dos quatro termos pesquisados, vemos que há uma ligeira concentração de discursos nos meses de março e agosto. Março foi o mês em que foi instituído o auxílio emergencial deste ano, por meio da MPV 1039/2021, após longa demora na aprovação da Lei Orçamentária Anual. O mês de agosto, por sua vez, é precisamente aquele em que o novo programa foi lançado, por meio da MPV 1061.
Gráfico 1. Discursos totais sobre o tema por mês
Quando consideramos apenas os termos “renda cidadã” e “auxílio brasil”, mais diretamente associados a programas imaginados pelo governo Bolsonaro, o número de discursos cai consideravelmente. O Renda Cidadã, que não chegou a sair do papel, foi definitivamente descartado pelo governo em dezembro de 2020 – o que pode ter impacto nesse resultado. Os poucos discursos levantados se concentram no mês de agosto em função do Auxílio Brasil. Vale ressaltar que, embora o novo plano surja como uma promessa importante do governo, ele parece ter mobilizado menos os parlamentares do que o problema do auxílio emergencial, ou o tema da renda mínima de modo geral.
Gráfico 2. Discursos sobre programas Renda Cidadã e Auxílio Brasil
Ao analisarmos a distribuição por partido, notamos uma avassaladora predominância de discursos proferidos por parlamentares do PT, tanto naqueles envolvendo todos os termos (gráfico 3), quanto naqueles específicos dos programas do atual governo (gráfico 2). No primeiro caso, o partido é responsável por quase metade dos discursos, seguido de muito longe pelo PSL. No segundo, por mais da metade. O destaque obtido pelo PT é muito significativo, mesmo considerando que o partido seja detentor da segunda maior bancada eleita. Isso se verifica mesmo no campo da esquerda: são 66 discursos petistas contra 7 do PCdoB e 7 do PSOL.
Gráfico 3. Total de discursos sobre o tema por partido
Gráfico 4. Discursos sobre renda cidadã e auxílio brasil por partido
Embora o governo pareça empenhado em viabilizar o programa Auxílio Brasil no ano de 2022, inclusive por razões eleitorais, não temos indicação de que a base bolsonarista considere o programa uma prioridade, ao menos no Congresso. Uma pesquisa mais extensa sobre o tema teria de incluir, também, uma análise das redes sociais dos parlamentares apoiadores do presidente. No entanto, é digno de nota que o PT domine os discursos sobre o tema, indicação de que ele continua a ser prioritário na agenda política do partido. Podemos pontuar, ainda, dois aspectos eleitorais que ajudam a explicar esse protagonismo petista. É de se esperar um esforço das lideranças partidárias em recuperar uma memória positiva dos governos Lula, já tendo como perspectiva a campanha do ex-presidente em 2022. Além disso, é possível também que o partido esteja reagindo às iniciativas do governo, de modo a preservar sua imagem na pauta da renda mínima.
4. Pontos de atenção
- O Auxílio Brasil tem um claro objetivo eleitoral. A expectativa de Bolsonaro é que o programa lhe permita construir uma narrativa para enfrentar Lula em 2022, no campo que mais favorece o ex-presidente. Lula traz na bagagem uma história de ampliação de programas sociais com impacto profundo na redução da pobreza. Bolsonaro, enquanto candidato, criticou sistematicamente Lula e o PT pela criação do Bolsa-Família, chamando-a de programa de “compra” velada de votos. Em 2022, a expectativa do presidente é que o Auxílio-Brasil cumpra exatamente o mesmo papel. Devido aos obstáculos políticos, orçamentários e administrativos, mesmo que aprovado o programa, pode não haver mais tempo para que o Bolsonaro colha seus frutos eleitorais.
- O Auxílio Brasil, contudo, dificilmente enfrentará resistências no Congresso. A estratégia da oposição, principalmente a do PT, parece ser a de reivindicar essa agenda e defender o legado de seus governos.
- Embora o novo programa institua algumas modificações conceituais em relação ao Bolsa-Família, é possível que as inovações demorem algum tempo para serem operacionalizadas adequadamente. Nesse sentido, a diferença mais imediata que poderá ser realizada a partir de 2022 será o reajuste dos valores pagos às famílias beneficiárias. Muito provavelmente, o desenvolvimento do novo programa ficará a cargo do governo que se iniciar em 2023.
- A principal dificuldade do governo será o de liberar espaço no orçamento para realizar os aumentos prometidos. Assim, embora o cenário no Congresso para a aprovação da MPV 1061/21 seja relativamente favorável, o novo programa dependerá ainda da aprovação de dois projetos com trâmites bem mais complicados, a PEC dos precatórios e a reforma tributária.
- Sem liberação de orçamento para aumento do valor do programa, a iniciativa não deve fazer, no curto prazo, diferença efetiva na vida das famílias brasileiras, tendendo, com isso, a frustrar as expectativas de Bolsonaro de aumentar a sua base eleitoral potencial – à semelhança do que foi experimentado à época do Auxílio Emergencial –, com os votos dos mais pobres – segmento dos mais hostis à ideia de reeleição do atual presidente.
- A PEC 125/2011 e o PLP 112/2021, que conformam a proposta de reforma política e eleitoral da Câmara, incluem diversos dispositivos, muitas vezes contraditórios entre si, dificultando o debate público e a avaliação sobre o que realmente pretende a Câmara dos Deputados.
Medida Provisória Trabalhista – 1045/2021
Postado por OLB em 24/set/2021 - Sem Comentários
Ciências Sociais Articuladas – O debate sobre a reforma política na Câmara dos Deputados
Postado por OLB em 18/ago/2021 - 1 Comentário
1. Apresentação
A um ano das eleições de 2022, o Congresso debate a toque de caixa uma série de proposições que, em conjunto, sinalizam para uma das maiores mudanças no sistema político-eleitoral do Brasil desde 1988. Mudanças de regras eleitorais a um ano do pleito não são fato raro na história recente do país. Pelo contrário, constitui prática comum dos parlamentares a alteração dos parâmetros que regem os pleitos de modo a melhor acomodar seus interesses. Desta vez, no entanto, o escopo das mudanças, a variedade de temas abordados, a pressa e a falta de transparência contribuem para aumentar consideravelmente o risco de retrocesso institucional da democracia brasileira. As propostas não apenas são muito mal elaboradas e contraditórias entre si, como também operam para diminuir a transparência, a fiscalização sobre os atuais mandatários e a institucionalização do sistema partidário.
Neste relatório apresentamos brevemente as proposições a respeito do tema que hoje tramitam nas duas casas legislativas e têm alguma chance de aprovação antes de outubro – prazo máximo para que as mudanças tenham efeito já nas próximas eleições. Na próxima seção, apresentamos as duas propostas em tramitação na Câmara dos Deputados. Em seguida, lançamos o olhar para o Senado, onde, de modo mais discreto, quatro proposições foram aprovadas recentemente, tendo sido, em seguida, remetidas também para a Câmara. Por fim, apresentamos uma análise dos discursos proferidos por deputadas e deputados sobre temas caros às propostas de reforma eleitoral que estão na mesa. Com isso, esperamos não apenas dar maior clareza às matérias em jogo, como também avaliar quais delas parecem despertar maior interesse dos parlamentares.
2. Distritão, código eleitoral e voto impresso
A proposição com mudanças de maior abrangência é a proposta de emenda à Constituição (PEC) 125 de 2011. Seu objetivo original era o de reduzir a abstenção eleitoral, ao vedar a realização de eleições próximas a feriados nacionais. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e seu grupo, no entanto, se valeram dessa proposição para encurtar a tramitação do conjunto de propostas que pretendiam fazer avançar, com enorme custo para a transparência do processo legislativo. No substitutivo oferecido pela relatora Renata Abreu (Podemos-SP) à comissão especial em que tramita atualmente a matéria, a finalidade original figura apenas como item marginal, no artigo 8. A peça condensa ideias díspares e muitas vezes desconexas. Dentre as mudanças propostas, a de maior impacto, indubitavelmente, é a mudança no sistema eleitoral brasileiro.
A relatora propôs inicialmente o fim do sistema proporcional em lista aberta, vigente no país desde 1945, e sua substituição pelo sistema distrital misto, em que metade da Câmara seria eleita em distritos uninominais, permanecendo a outra metade eleita pelo sistema atual, que é proporcional. Entretanto, usando o argumento de que essa mudança requer enorme esforço logístico por parte da Justiça Eleitoral (o que, de resto, deveria depor contra a injustificada pressa para se aprovar matéria), a relatora acabou por revelar a verdadeira intenção de seu grupo político, propondo a adoção, em 2022, do sistema de voto único intransferível – vulgo “distritão”, defendido há alguns anos pelas principais lideranças do “Centrão” no Congresso. Por essa proposta, as cadeiras seriam preenchidas não de maneira proporcional pelos partidos, mas simplesmente pelos parlamentares mais votados em cada estado, com a ressalva de que está em debate, no âmbito da comissão especial, uma espécie de nova cláusula de barreira, que exigiria um percentual mínimo de votos dos partidos para eleição de seus candidatos – é um meio de caminho que complexifica e descaracteriza o “distritão” sem resultados efetivos do ponto de vista da representação proporcional. A proposta tem sido severamente criticada por especialistas e organizações de todos os campos políticos[1].
Dentre outras medidas presentes no substitutivo de Renata Abreu, destacam-se ainda: a) mudanças na cláusula de barreira, que considerará, se aprovada a proposição, também o desempenho do partido no Senado, b) exigência de que os votos em mulheres contarão duas vezes mais do que os votos em homens na distribuição dos recursos do fundo partidário, valendo ressaltar que isso não resulta, necessariamente, em maior destinação de recursos às candidaturas femininas; c) simplificação da apresentação de projetos de lei de iniciativa popular; d) exigência do princípio da anterioridade de decisões judiciais, que passariam, portanto, a cumprir o prazo mínimo de um ano antes de valerem para as eleições. Essas propostas, as principais delas com potencial efeito degradante sobre a democracia brasileira, compartilham do fato de terem sido elaboradas de maneira apressada, sem amplo debate público.
A outra proposição de grande envergadura em processo acelerado de tramitação na casa é o projeto de lei complementar (PLP) 112/2021, que institui um código eleitoral em substituição às diversas leis eleitorais hoje em vigor. Também essa proposta traz inúmeros pontos polêmicos, discutidos quase que exclusivamente no âmbito do grupo de trabalho coordenado pela deputada Margareth Coelho (PP-PI). A matéria será votada diretamente em plenário. As mudanças que têm suscitado mais críticas são as seguintes: a) pesquisas eleitorais passariam a necessitar de um índice de acerto do instituto nos últimos cinco pleitos e sua divulgação só pode ser feita até a antevéspera das eleições; b) diversos dispositivos que limitam a capacidade de fiscalização da Justiça Eleitoral e diminuem as obrigações de prestação de contas de dirigentes partidários; c) cotas de gênero nas candidaturas não avançam em comparação à proporção de mulheres hoje com assento na Câmara dos Deputados, ao passo que não é feito menção a cotas raciais; d) não há qualquer previsão de cotas para negros no financiamento eleitoral ou nas cadeiras dos parlamentos, assunto no qual a regulação judicial das eleições já havia avançado; e) a cassação de mandatos pela Justiça Eleitoral é dificultada, enquanto alguns crimes eleitorais são transformados em infrações cíveis, à exemplo do transporte de eleitores para a urna; f) as resoluções do TSE passam a precisar ser adotadas com ao menos um ano de antecedência para que possam ser aplicadas nas eleições – note-se que o ponto é similar ao defendido no substitutivo da deputada Renata Abreu .
Por fim, outro tema que agita o cenário político na Câmara em razão da militância aberta do presidente da República e de seus apoiadores nas duas casas legislativas é a adoção do voto impresso. Desde ao menos 2018 Jair Bolsonaro levanta dúvidas, até agora infundadas, sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas o tópico esquentou nos últimos meses, depois de consolidada a possibilidade de Lula (PT) se candidatar e aparecer como favorito em todas as pesquisas de opinião. A ideia foi apresentada na Câmara por meio da PEC 135/2019 e tem baixíssima chance de prosseguir. Em todo caso, envolveu intensa mobilização contrária do TSE e de seu presidente, o ministro Luís Roberto Barroso.
Como se pode notar, tanto na (PEC) 125/2011 como no (PLP) 112/2021 figura a intenção de limitar o papel desempenhado pela Justiça Eleitoral, bem como sua capacidade de regulação da vida partidária. Ainda não está claro o que os defensores da reforma julgam prioritário e o que deverá sofrer maior ou menor resistência nas respectivas comissões especiais, no Plenário da Câmara e, por fim, no Senado, onde também precisam ser aprovadas antes de outubro para terem validade já em 2022. De qualquer modo, é de se esperar alguma revisão do papel institucional hoje cumprido pelo TSE.
3. Senado
Diferentemente da Câmara, que avança tardiamente uma agenda ampla e controversa, cujo grau de receptividade na casa ainda não está claro, o Senado Federal aprovou quatro proposições no primeiro semestre de 2021 que alteram o sistema eleitoral brasileiro de maneira bem mais pontual. As mudanças ainda precisam ser aprovadas na Câmara dos Deputados e sancionadas pelo presidente, mas são indicativas das matérias que encontram respaldo entre senadoras e senadores. Também é uma maneira de se avaliar em que pontos as agendas de Senado e Câmara são díspares ou se reforçam.
A PEC 18/2021, em sua versão original, buscava regular (mas também restringir) o emprego do fundo eleitoral pelos partidos para apoiar candidaturas femininas, tendo em vista a resolução do TSE de 2019 que obrigou a distribuição proporcional desses recursos entre gêneros. No entanto, o substitutivo finalmente aprovado em plenário limitou os efeitos da PEC sobre outras ações judiciais e propostas legislativas, tendo por efeito principal a anistia aos partidos que não aplicaram corretamente esses recursos nas eleições de 2020, liberando para eles, portanto, o uso do fundo eleitoral em 2022. O projeto de lei (PL) 1951 de 2021 versa sobre o mesmo tema, desobrigando os partidos de destinar valor proporcional do fundo eleitoral a candidaturas femininas, para além dos 30% previstos em lei.
As outras duas proposições aprovadas são o PL 783/2021 e o PL 4572/2019. Enquanto o primeiro dispõe sobre o cálculo das sobras eleitorais e explicita o fim das coligações em eleições proporcionais (que já não foram permitidas nas eleições de 2020), o segundo reinstitui a propaganda partidária (diferente da propaganda eleitoral), proibida desde 2017. Essas últimas duas mudanças, vão ao encontro do fortalecimento dos partidos políticos, diferentemente do que se pretende com a proposta do “distritão”, em debate na Câmara. A PEC 18/2021 e o PL 1951/2021, entretanto, tratam de temas mais próximos aos objetivos de deputados e deputadas federais ao limitar a influência do TSE nas eleições, em particular no tocante à cota de candidaturas femininas, conforme a decisão do Tribunal em 2019.
4. Discursos
Parte da polêmica em torno dos projetos de reforma política e eleitoral resulta da variedade de temas que ela envolve, e da dificuldade de se avaliar o que realmente mobiliza os parlamentares e conta com chances de aprovação. Com o objetivo de avaliar o nível de engajamento dos(as) deputados(as) federais no debate sobre a reforma política almejada por parte da Câmara, o OLB analisou todos os discursos proferidos entre fevereiro e julho de 2021 com menção a algumas palavras e expressões representativas do assunto. Foram desconsideradas as manifestações a respeito do fundo eleitoral, já que elas foram feitas principalmente no âmbito da discussão orçamentária provocada pela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, não envolvendo, portanto, mudanças institucionais de maior fôlego.
O resultado aponta para um engajamento extremamente baixo dos(as) parlamentares na discussão de uma reforma de grandes proporções, que também passa ao largo da escuta da sociedade civil. Foram identificados apenas 75 discursos, a maior parte deles tipificados como “Breves Comunicações”. Há também um volume expressivo de discursos do tipo “Comissão Geral”, sendo importante esclarecer que os discursos assim classificados foram feitos quando da recepção, pela Casa, do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que apresentou em junho de 2021 o seu posicionamento com relação ao voto impresso. O mês de junho, em função disso inclusive, figura como aquele de maior frequência de discursos no período. Ou seja, além do pequeno volume de manifestação parlamentar sobre um assunto de significativo impacto no sistema eleitoral e político-partidário brasileiro, quase 30% das exposições foram realizadas em evento pontual, marcado pela presença do presidente do TSE na Câmara dos Deputados.
Gráfico 1. Discursos sobre reforma política em geral por tipo
Os partidos do campo da esquerda (PT, PSB e PSOL) são aqueles que reúnem o maior número de parlamentares autores dessas proposições. Na legislatura atual, esses três partidos também foram os que mais se destacaram, seguidos pelo PDT e pela Rede. Quando, no entanto, dividimos a Câmara ems dois conjuntos mais amplos de partidos, de centro-esquerda e centro-direita, notamos que 64% dos autores pertencem a partidos da centro-direita. Ou seja, o tema não é exclusivo da esquerda, sendo disputado por legendas ideologicamente distintas, o que pode sinalizar maior risco à flexibilização de direitos conquistados ao longo de mais de 30 anos de vida democrática no país. Vale ressaltar que a presença da centro-esquerda cresce quando observados apenas os projetos iniciados nos anos de 2019 e 2020 (74%) – retrato, provavelmente, do grande número de medidas propostas para enfrentamento à pandemia e, possivelmente, de uma postura defensiva em relação à agenda do atual executivo.
Gráfico 2. Discursos sobre reforma política em geral por mês
Deputados e deputadas federais do PT foram os que mais discursaram (22) sobre assuntos pertinentes à reforma política. O PSL destacou-se em seguida, embora bem atrás do PT, com apenas 8 discursos. Cabe ressaltar que as manifestações sobre o assunto foram majoritariamente de deputados e deputadas do Sudeste e do Sul, que responderam por 60% do total de discursos.
Gráfico 3. Discursos sobre reforma política em geral por partido
Gráfico 4. Discursos sobre reforma política em geral por UF
O voto impresso foi o tópico mais abordado nos discursos analisados no período, o que provavelmente decorre do debate realizado na Comissão Geral com o ministro Barroso. Dos 75 discursos, 45 (60%) trataram especificamente desse tema, a despeito do enorme volume de alterações no sistema político-eleitoral proposto nos dois espaços formais abertos para discussão sobre reforma política na Câmara: a comissão especial da PEC 125/2011, sob a relatoria da deputada Renata Abreu (Podemos), e o grupo de trabalho instituído para criar o código eleitoral, sob a relatoria da deputada Margareth Coelho (Progressistas).
A maior parte dos discursos sobre voto impresso, no entanto, apontou rejeição à proposta (58%), muito em função da própria quantidade de discursos do PT, que se manifestou de forma expressiva e coesa sobre o assunto. Cabe ressaltar que, apesar da predominância do PT na oposição ao voto impresso, outros partidos também manifestaram posicionamento semelhante, à esquerda e à direita, a exemplo do PSOL, do PCdoB, do PSB e da Rede, de um lado, e do PL, do Republicanos, do Avante e do Cidadania, por outro.
Gráfico 5. Discursos sobre voto impresso por posicionamento
Entre os 30 discursos que não fizeram qualquer menção ao voto impresso, três tópicos se destacaram: código eleitoral, distritão e reforma política, esse último reunindo intervenções de conteúdo mais amplo sobre o assunto.
Gráfico 6. Posicionamento sobre outros temas da reforma política presentes nos discursos
Quase todos os discursos centrados na discussão do código eleitoral demonstraram apoio explícito aos trabalhos do grupo dedicado a criá-lo. Os partidos que se dedicaram a esse tema foram PP, PL, PV e Novo. No que se refere ao distritão, o quadro foi exatamente o inverso. Dos 8 discursos a respeito, 7 apresentaram argumentos contrários à instituição desse sistema de votação, com destaque para partidos de esquerda (PT, PSOL, PSB e PDT). Houve, no entanto, manifestação contrária também do PSC. Nos discursos sobre “reforma política”, a maioria favorável à oportunidade e necessidade do debate incluiu partidos como Republicanos, PSD, PSL e o próprio PT. Por fim, praticamente todos os que discursaram sobre reserva de vagas para mulheres e federações partidárias expuseram opiniões a favor da instituição dessas regras. Sobre a reserva de vagas para mulheres na Câmara, vale mencionar que a posição majoritária manifesta nos discursos de partidos da própria esquerda, como PT e PCdoB, contraria as reivindicações de organizações sociais e especialistas no assunto, que afirmam que a nova regra não resultará em avanço efetivo do ponto de vista da proporção de mulheres com cadeiras na Casa, podendo ainda reduzir o número de mulheres eleitas. A proporção de cadeiras para mulheres na Câmara hoje sugerida no PLP 112/21 – que institui o código eleitoral – é de 18%, praticamente a proporção de mulheres eleitas em 2018. A proposta ainda desconsidera regra que vigorou em 2020 de distribuição proporcional dos recursos para candidaturas femininas. É importante registrar que não há qualquer menção nos discursos analisados sobre cota para negros ou a qualquer medida que venha a mitigar a subrepresentação dos negros no Congresso, o que reforça a constatação de que a desigualdade racial não tem sido objeto de atenção parlamentar.
Em resumo, não há discussão expressiva sobre a reforma política na Câmara, apesar do presidente Arthur Lira (PP) manifestar intenção de concluir a votação das proposições sobre o assunto antes de outubro, de modo que as novas regras já possam ser aplicadas nas eleições de 2022. Infere-se, por esses 75 discursos proferidos, que temas como o distritão e voto impresso tendem a ser propostas que suscitam controvérsia e encontram poucos defensores ardentes na Casa. Por outro lado, o código eleitoral em construção é visto com bons olhos por parte dos parlamentares e não encontra tanta resistência, mesmo na oposição, em que pese as posições diferentes a respeito do tópico referente às mulheres. Apesar de isso ser insuficiente, no entanto, para permitir uma análise minimamente acurada sobre questões possivelmente caras aos parlamentares, encobertas pela falta de debate parlamentar público a respeito, .
É possível sinalizar que a disputa velada com o TSE em torno da regulação da vida partidária e eleitoral do país é o que realmente parece motivar os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. Nesse sentido, das proposições iniciadas na Câmara, a que trata do código eleitoral é possivelmente aquela que tem maior chance de prosperar. O caminho mais indicado para isso, no entanto, seria o de contornar os temas que suscitam maior controvérsia e que podem sofrer resistência da oposição, do Senado e, por fim, mesmo do TSE. Esse caminho, de debate público e concertação institucional, não foi, contudo, o escolhido, até o momento, pelo presidente da Câmara e seu grupo. Resta ver até onde conseguirão manipular as distintas maiorias que formaram na Câmara a fim de fazer avançar a sua agenda duvidosa.
5. Pontos de atenção
- A PEC 125/2011 e o PLP 112/2021, que conformam a proposta de reforma política e eleitoral da Câmara, incluem diversos dispositivos, muitas vezes contraditórios entre si, dificultando o debate público e a avaliação sobre o que realmente pretende a Câmara dos Deputados.
- No Senado, o sentido das mudanças é mais delimitado e é focado, em grande medida, na redução do papel da Justiça Eleitoral na vida política brasileira.
- A revisão do papel da Justiça Eleitoral no Brasil é, portanto, a proposta que tende a encontrar maior acolhimento nas duas casas do Congresso, em função da desconfiança dos parlamentares com relação às interferências do TSE no sistema eleitoral e na vida partidária. Há, contudo, pontos de controvérsia.
- No que toca à inclusão de mulheres na representação, as propostas hoje em pauta são omissas ou quando muito mantenedoras do status quo, que é de baixíssima presença de mulheres.
- A pauta da igualdade racial, que avançou nas últimas eleições por ação do STF e do TSE, foi ignorada pelas propostas, o que mostra o alto nível de isolamento das lideranças que as defendem em relação à sociedade civil.
- Mesmo no tocante ao código eleitoral, no entanto, há pontos que suscitam controvérsia e oposição em diversos grupos do Congresso e da Justiça Eleitoral. Não está claro se o caminho escolhido por Arthur Lira (PP-AL) e seus aliados – o da confusão generalizada e tentativa de imposição de pauta pelo Centrão – é o mais adequado para que as matérias prosperem.
- A discussão aberta entre deputados e deputadas federais é insuficiente se considerada a magnitude das mudanças propostas, a julgar pelo número de discursos proferidos sobre o assunto, grande parte deles tratando, inclusive, do voto impresso, que, além de tecnicamente desnecessário, tem papel marginal na reforma política em construção.
- A tramitação das proposições deverá ser ainda mais acelerada nos meses de agosto e setembro, pois há o risco de nada ser aprovado em tempo hábil para as eleições de 2022 – cenário que favorece enormemente, em caso de aprovação das matérias, a adoção de medidas casuísticas em meio à disputa velada entre parte do Congresso e o TSE.
Glossário da reforma eleitoral
Abaixo vai um breve glossário explicando os principais termos utilizados no debate da reforma eleitoral, que muitas vezes têm aspectos técnicos não muito claros para o leitor sem especialização no assunto.
Distritão – sistema eleitoral multinominal (para escolha de várias cadeiras) no qual são eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos, desconsiderando-se os votos nas legendas dos partidos e os votos dos outros candidatos dentro de cada partido. O distrito eleitoral permanece a unidade federativa.
Distrito eleitoral – unidade territorial na qual se computa os votos em uma eleição. Por exemplo, no Brasil o distrito nas eleições de deputado federal é o estado (unidade federativa), para a eleição de vereadores é o município.
Sistema distrital – tecnicamente o nome correto é majoritário uninominal, pois em cada distrito é eleito somente um candidato, aquele que obtiver maior número de votos. Os distritos precisariam ser desenhados, pois não correspondem às unidades territoriais existentes.
Sistema eleitoral – conjunto de regras que rege as eleições, determinando a natureza dos distritos, o método de cômputo de votos, a distribuição de cadeiras, etc.
Sistema misto – combina o sistema proporcional e o sistema majoritário uninominal, também conhecido como voto distrital. Metade das cadeiras é distribuída pelo método proporcional, tomando as unidades federativas como distrito eleitoral, como fazemos hoje, e metade pelo método majoritário uninominal (distrital), no qual os distritos correspondem a subdivisões do território de cada unidade federativa de modo a conter iguais parcelas da população.
Sistema proporcional – é o sistema hoje adotado no Brasil nas eleições para vereadores, deputados estaduais e federais. As cadeiras são distribuídas proporcionalmente à votação total obtida por cada partido, que por seu turno corresponde à soma dos votos dos candidatos do partido e dos votos de legenda.
[1] O tópico foi discutido em nota anterior deste mesmo projeto.
Ciências Sociais Articuladas – A produção legislativa do Congresso sobre povos tradicionais
Postado por OLB em 21/jul/2021 - Sem Comentários
1. Apresentação
O governo de Jair Bolsonaro é hostil aos povos tradicionais do Brasil. A política federal para índios e quilombolas foi anunciada já no início da campanha eleitoral do presidente: flexibilizar as regras de demarcação de terras em favor da expansão do agronegócio e da mineração, a partir de uma narrativa racista, etnocêntrica e integracionista, que representa um enorme retrocesso com relação aos compromissos assumidos a partir da Constituição de 1988.
De 2019 para cá, muitas foram as ações empenhadas pelo governo federal com o objetivo de desmontar o arcabouço institucional construído após a ditadura militar, responsável por reconhecer o direito originário à terra ocupada pelas populações tradicionais, bem como suas diferentes formas de organização social.
No seu primeiro dia de mandato, Bolsonaro editou uma Medida Provisória para transferir a Funai do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, delegando ao último a tarefa de demarcação de terras indígenas e quilombolas, até então sob a alçada da Funai e do INCRA, respectivamente. A iniciativa foi barrada pelo Congresso Nacional, que emendou a medida. Nova tentativa foi feita em junho do mesmo ano, dessa vez interditada pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, Bolsonaro nomeou para a Funai um presidente próximo aos ruralistas, Marcelo Xavier, alinhado com o argumento de que os direitos das populações tradicionais constituem na verdade “privilégios”. Para Fundação Palmares, o nome escolhido, Sérgio Camargo, protagoniza ataques ao Movimento Negro e às religiões de matriz africana desde sua posse, em novembro de 2019. Como resultado da adoção desse novo “paradigma” de governo, houve paralisação das demarcações de terras e intensificação dos conflitos territoriais.
No último dia 23, uma ofensiva de grandes proporções foi feita pela Câmara dos Deputados contra os povos indígenas, sob a liderança de Bia Kicis (PSL), presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e uma das aliadas mais fervorosas do presidente. O projeto de lei (PL) 490/2007, que desde 2007 não contava com uma coalizão favorável à sua aprovação, altera as regras para demarcação de terras, garantindo o direito de propriedade aos indígenas apenas se comprovada que a ocupação do território na data da promulgação da Constituição de 1988, sem interrupção. Além disso, o PL permite a exploração econômica das terras por indígenas e parceiros não indígenas e assegura a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal sem prévia consulta às comunidades. O projeto vai à votação no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Se aprovado, submeterá à população indígena a todo tipo de violência – física, material e simbólica – agravando o quadro atual de devastação provocado pelas queimadas e pela ação e omissão deliberadas do governo federal. O Brasil foi, inclusive, apontado pela primeira vez, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, como país sob risco de genocídio da população indígena.
O sentido das ações destinadas aos quilombolas não é diferente. A Fundação Palmares paralisou suas atividades de certificação de comunidades quilombolas – primeiro passo para a demarcação de suas terras. Pesquisas indicam que o reconhecimento da existência dessas comunidades caiu pela metade no governo Bolsonaro. Essa insegurança territorial tem impacto profundo sobre a capacidade de acesso a políticas públicas por parte dessa população e, portanto, sobre as suas condições de subsistência e sobrevivência, já precarizadas pela própria pandemia.
Se não há dúvida com relação à natureza da agenda governamental sobre o assunto, há uma mudança significativa de conjuntura em 2021, que impõe atenção redobrada à tramitação de projetos com impacto sobre indígenas e quilombolas nos próximos meses. Em fevereiro, o aliado de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP), assumiu a presidência da Câmara, prometendo priorizar assuntos do governo e dar vazão aos interesses mais conservadores presentes no Congresso, que muitas vezes enfrentavam a oposição de Rodrigo Maia (DEM), presidente da casa nos dois primeiros anos da atual legislatura. A recente tramitação do PL 490/2007 é indício de que pode haver aumento do ímpeto para movimentar essa pauta no Congresso antes das eleições.
Com o objetivo de melhor desvendar esses assuntos, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) identificou e analisou todas as proposições relacionadas a eles que foram movimentadas na Câmara desde o início desta legislatura, bem como os discursos de plenário de deputados e deputadas federais que fizeram algum tipo de menção ao tema. Para verificar se o conjunto das proposições movimentadas tem características distintas daquelas que foram efetivamente apresentadas pelos(as) parlamentares eleitos em 2018, separamos os dados em dois subconjuntos: a) todas as proposições nos assuntos relevantes movimentadas/tramitadas[1] entre 2019 e 2021; e b) proposições movimentadas entre 2019 e 2021 que tenham sido apresentadas efetivamente nesse período e não em anos anteriores. Os resultados são analisados a seguir.
2. Tamanho da pauta e comportamento partidário
De 2019 a 2021, 146 proposições legislativas com menção a povos tradicionais foram movimentadas na Câmara, 46% das quais (67) apresentadas na atual legislatura e 54% iniciadas entre 1991 e 2018, a exemplo do PL 490, que, apesar de votado na CCJC em junho de 2021, foi apresentado há 14 anos atrás. Desse total, apenas 11 proposições são de autoria do Senado. As demais foram apresentadas por deputados e deputadas federais.
Gráfico 1. Ano de apresentação das propostas sobre povos indígenas e tradicionais
Os partidos do campo da esquerda (PT, PSB e PSOL) são aqueles que reúnem o maior número de parlamentares autores dessas proposições. Na legislatura atual, esses três partidos também foram os que mais se destacaram, seguidos pelo PDT e pela Rede. Quando, no entanto, dividimos a Câmara em dois conjuntos mais amplos de partidos, de centro-esquerda e centro-direita, notamos que 43% dos autores pertencem a partidos da centro-direita. Ou seja, o tema não é exclusivo da esquerda, sendo disputado por legendas ideologicamente distintas, o que pode sinalizar maior risco à flexibilização de direitos conquistados ao longo de mais de 30 anos de vida democrática no país. Vale ressaltar que a presença da centro-esquerda cresce quando observados apenas os projetos iniciados nos anos de 2019 e 2020 (74%) – retrato, provavelmente, do grande número de medidas propostas para enfrentamento à pandemia e, possivelmente, de uma postura defensiva em relação à agenda do atual executivo.
Gráfico 2. Total de propostas movimentadas por sigla dos deputados
Gráfico 3. Total de propostas apresentadas por sigla dos deputados
Para avaliação da temperatura do debate em torno de temas relativos aos povos tradicionais, também analisamos os discursos proferidos na Câmara em oportunidades e espaços institucionais distintos entre 2019 e 2021. Ao todo, foram 678 registros de menção ao tema, entre homenagens, discursos de pequeno e grande expedientes, breves comunicações, encaminhamentos de votações e exposições das lideranças partidárias, entre outros. Tendo em vista a importância e o peso dos discursos de líderes partidários na condução da Casa, primeiramente nos concentramos em identificá-los. Foram 95 dos 678. É bom lembrar que está regimentalmente assegurado que os líderes partidários, além dos líderes do governo, da Maioria e da Minoria, façam uso da palavra por período de tempo proporcional ao número de membros das suas respectivas bancadas em determinada fase de qualquer sessão ordinária da Câmara. No total de manifestações, os partidos da centro-esquerda novamente assumem destaque – particularmente o PT, a Rede e o PSOL, conforme demonstrado no gráfico abaixo.
Gráfico 4. discursos de líderes sobre povos indígenas e tradicionais.
3. A dimensão regional do debate
De acordo com os dados que levantamos, as proposições movimentadas no período foram iniciadas por parlamentares distribuídos nos 26 estados da federação, além do Distrito Federal. São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais se sobressaem tanto no conjunto total de proposições quanto no subconjunto das proposições movimentadas de autoria dos parlamentares eleitos em 2018. É importante ressaltar que São Paulo e Minas Gerais são os dois estados com maior representação na Câmara, 70 e 53 cadeiras, respectivamente, embora o Sudeste seja a região com menor proporção de população indígena no Brasil. Mato Grosso, por sua vez, conta com apenas 8 deputados(as) na Casa, mas concentra 56% da população indígena do Centro-Oeste, que é a terceira região brasileira em termos de distribuição espacial dos indígenas segundo o Censo de 2010, atrás de Norte e Nordeste.
É importante ressaltar que os projetos movimentados e iniciados efetivamente na atual legislatura revelam desempenho também relevante de parlamentares que representam o estado de Pernambuco. Inversamente, apenas 9 autorias do total de proposições movimentadas entre 2019 e 2021 couberam a parlamentares do Amazonas, estado com maior proporção de índios no Brasil. Mato Grosso e Amazonas fazem parte da área definida pelo governo como Amazônia Legal, que conta com outros 7 estados do entorno. Os 9 estados juntos foram responsáveis por 31% das assinaturas das proposições que a Câmara optou por movimentar de 2019 para cá.
Gráfico 5. Total de propostas movimentadas por UF dos deputados
Gráfico 6. Total de propostas apresentadas por UF dos deputados
Dos líderes partidários que discursaram sobre povos tradicionais, destacam-se os originários de Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 95 discursos nos últimos 2 anos, 43% foram feitos por representantes dos estados que compõem a Amazônia Legal.
Gráfico 7. Discursos de líderes sobre povos indígenas e tradicionais
4. Estágio atual das proposições movimentadas pela Câmara
A maior parte das 146 proposições movimentadas tramita em conjunto com outras proposições e o apensamento desses projetos, ou seja, o ato de fazê-los tramitar pela Câmara conjuntamente, foi uma das ações desempenhadas prioritariamente na atual legislatura. Houve arquivamento de 30 proposições e somente 4 foram transformadas em norma jurídica. Vale observar que há 12 proposições Prontas para Pauta, que, portanto, já receberam pareceres das comissões de mérito e/ou tramitam em regime de urgência.
Gráfico 8. Estágio das proposições sobre povos indígenas e tradicionais
5. Ênfases das propostas movimentadas na atual legislatura (nuvens de palavras)
Com o objetivo de entender os microtópicos das proposições legislativas movimentadas, rodamos nuvens de palavras com base nas palavras-chave indexadas pela Câmara em cada proposição. Fizemos isso, igualmente, para os dois conjuntos de informação em análise – total de proposições movimentadas e proposições movimentadas iniciadas na legislatura 2019-2022.
No primeiro caso (gráfico 7), notamos a proeminência das palavras “fundo” e “terra”. No segundo (gráfico 8), as palavras “universidade”, “alteração (de lei)”, “educação”, “saúde”, “coronavírus” ganham destaque, em alinhamento à mudança de natureza dos projetos, fruto provavelmente da necessidade de enfrentamento à pandemia. Apesar disso, o controle de territórios é prioridade da Câmara nos dois casos.
Gráfico 9. Palavras do total de proposições tramitadas
Gráfico 10. Palavras de proposições iniciadas na atual legislatura
6. Pontos de destaque
- É grande o número de matérias sobre povos tradicionais movimentadas pela Câmara na atual legislatura. Foram 146 no período analisado. De 2005 para cá, houve pequeno crescimento do número de proposições legislativas sobre o tema apresentado ano a ano, com destaque para os anos de 2015, e fundamentalmente, 2020. A necessidade de proteção dessa população durante a pandemia pode ser uma explicação para o volume de matérias iniciadas no último ano. Outra possibilidade é a tentativa de proteção de povos indígenas e quilombolas pela via legislativa, diante do avanço da agenda de retrocessos de Jair Bolsonaro.
- As regiões e estados de maior população indígena não correspondem às bancadas de maior ativismo parlamentar no tema. Isso é indicativo da provável combinação dos seguintes fatores: a) os partidos mais identificados com a causa ambiental tem desempenho pior no Centro-Oeste e no Norte em comparação ao restante do país; b) os movimentos indígenas e sociais têm menor capacidade de inserção institucional nessas regiões, o que pode ser consequência de problemas de organização e, principalmente, de violência política.
- O tema relativo aos direitos de povos indígenas e quilombolas não é exclusividade da esquerda. Se por um lado isso pode ser considerado algo positivo, indicando uma interlocução mais ampla no espectro político, por outro pode ser sinal de que partidos conservadores identificam no tema um obstáculo ao avanço de suas agendas.
- Apesar do grande volume de proposições tramitadas, poucas foram transformadas em lei. Uma característica do tema é que muitas das proposições tratam de assunto idêntico/correlato, motivo pelo qual é alta a proporção de apensamento, ou seja, de projetos tramitando conjuntamente.
- Do ponto de vista microtemático, observa-se que grande parte das proposições trata fundamentalmente da terra e, provavelmente, dos conflitos em torno dela e, de forma secundária, mas não menos importante, do manejo de recursos públicos.
Ressaltamos que a análise feita neste boletim é de caráter preliminar e tem por fim identificar os aspectos mais gerais do cenário. Esforços futuros de aprofundamento no tema devem incluir a identificação das valências das propostas assim como outros microtemas pertinentes, entre outros detalhes.
[1] Proposição movimentada/tramitada refere-se a toda e qualquer proposição, apresentada por deputado ou senador, que tenha tido algum tipo de andamento na Câmara no período em análise. Exemplo: despacho da Mesa Diretora, designação de relator, despacho de uma comissão para outra, recebimento de emenda, votação, arquivamento etc.
A CPI da Pandemia: Bancada do Nordeste tornou o Senado um solo fértil para o oposicionismo
Postado por OLB em 04/jul/2021 - Sem Comentários
Leonardo Martins Barbosa, Debora Gershon, Júlio Canello
1. Apresentação
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid foi instalada, no Senado, em 27 de abril, após determinação do Supremo Tribunal Federal. CPIs são usuais na história recente do Brasil. Desde o governo de Fernando Collor, o primeiro eleito pelo voto direto depois do fim da ditadura militar, elas têm cumprido papel importante em momentos cruciais da vida política nacional. Além disso, são instrumentos corriqueiros das democracias representativas, presidencialistas e semi-presidencialistas, especialmente as de tradição constitucionalista norte-americana. Elas foram instituídas no Brasil pela primeira vez em 1934. Depois do Estado Novo, foram previstas na Constituição de 1946 como prerrogativas tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. No regime militar, a Constituição de 1967 incluiu a possibilidade de serem instaladas pelas duas casas legislativas em conjunto, as CPIs mistas ou CPMIs. Na Constituição de 1988, elas ganharam poderes próprios das autoridades judiciais.
Desde a redemocratização, portanto, as CPIs, que são destinadas à investigação de fatos determinados da competência legislativa e fiscalizatória do Congresso, se diferenciam das demais comissões legislativas permanentes por possuírem poderes usualmente atribuídos ao Poder Judiciário. Por exemplo, dentre outras atividades, cabe a elas realizar oitivas de indiciados e inquirir testemunhas, tomar depoimentos de autoridades públicas, realizar sindicâncias e diligências, determinar a realização de buscas e apreensões, solicitar quebra de sigilos bancário, fiscal e de dados de seus investigados, determinar prazos para o cumprimento de providências e requisitar informações e documentos de órgãos e autoridade públicas.
Além de previstas na Constituição, as CPIs são reguladas pelos regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Sua instalação depende do apoio de somente ⅓ dos parlamentares[1], motivo pelo qual elas servem às minorias como instrumento de controle e fiscalização diante da eventual (e comum) formação de super maiorias governistas nas instituições políticas. Em suma, as CPIs ajudam a garantir a representatividade do sistema político e a efetiva separação de poderes.
Como instrumento primordialmente ativado pelas minorias, as CPI são em geral requeridas pela oposição, não havendo, contudo, impedimento formal para que sejam requeridas também pela base governista. Do ponto de vista político, isso parece fazer pouco sentido à primeira vista, já que as comissões usualmente investigam ações e omissões do governo, podendo assim sujeitá-lo a considerável desgaste político. No entanto, tendo em vista os limites estatutários para a criação de novas CPIs – na Câmara são permitidas apenas cinco simultaneamente – é comum que a base governista se antecipe e crie CPIs que não tenham objeto explosivo para o governo de plantão. Com isso, ou impedem a criação de CPIs mais danosas ao governo ou desviam a atenção daquelas já instaladas. Essa estratégia, inclusive, chegou a ser ensaiada por Eduardo Girão (Podemos-CE), senador governista que pretendia ampliar o escopo da investigação, dirigida pelo requerimento inicial da oposição ao comportamento do governo federal, diante da impossibilidade de barrá-la.
A instalação de CPIs diz muito sobre as relações entre governo e Congresso em determinada conjuntura. O fato de a CPI da Covid ter sido instalada no Senado, por exemplo, revela alguns aspectos importantes da relação entre o Senado e o governo de Jair Bolsonaro em 2021, com possível impacto na tramitação da agenda governamental em período pré-eleitoral.
Neste boletim, analisamos as motivações do Senado para instalação dessa comissão e indicamos, em função do rumo dos trabalhos realizados até então, alguns dos possíveis impactos na relação entre os Poderes e na jornada do presidente Bolsonaro até 2022.
2. Uma CPI oposicionista
Os dois primeiros anos do atual governo foram marcados pelas relações estremecidas entre Jair Bolsonaro e o então presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (atualmente sem partido). A disputa se acirrou durante a pandemia da Covid-19 e prejudicou – ou mesmo comprometeu – a capacidade política do governo de avançar sua agenda no Legislativo neste período, especialmente na Câmara dos Deputados. A situação na Câmara contrastava com a boa relação que o Planalto mantinha junto ao então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Por essa razão, conseguir eleger o aliado Arthur Lira (PP-AL) para a sucessão de Rodrigo Maia tornou-se prioridade absoluta da articulação política do governo no início de 2021.
A vitória do candidato governista trouxe a perspectiva de melhora no ambiente político para o Planalto. De fato, nos primeiros meses de 2021 foi possível observar um avanço na pauta prioritária do governo. Podemos citar, a título de exemplo, as mudanças promovidas na condução da reforma tributária, com a rejeição ao relatório de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aliado de Rodrigo Maia, e o fatiamento da proposta. Também a aprovação da MP de privatização da Eletrobras e do PL do Licenciamento Ambiental são vitórias comemoradas pelo governo nos primeiros meses do ano. O que não se esperava, contudo, era uma mudança na direção inversa no Senado.
As lideranças do Senado mostraram inaudita disposição para instalar a CPI, mesmo que sua criação tenha sido determinada pelo STF. A hostilidade ao governo pode ser confirmada por diversos eventos, a começar pela escolha para a relatoria de Renan Calheiros (MDB-AL) – notório opositor. Além disso, a maior parte dos membros titulares da CPI apresentam um baixo índice de alinhamento ao governo em votações nominais, conforme se pode observar no gráfico 1.
Gráfico 1. Alinhamento dos Membros da CPI em votações
Dos cinco membros com pontuação acima de cinco, quatro têm atuado de maneira mais enfática em defesa do governo. Contudo, Omar Aziz, o presidente da CPI, que tem índice de alinhamento medido em 5,3, tem adotado postura divergente dos governistas. Dentre os seis cujas notas pontuaram abaixo de cinco, aqueles com comportamento mais abertamente oposicionista são Randolfe Rodrigues (Rede-DF) e Humberto Costa (PT-PE). É importante destacar que os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Renan Calheiros (MDB-AL), que mantêm baixa adesão em plenário às preferências governamentais, são conhecidos pelas relações que estabeleceram com o PT em nível federal e estadual.
Depois de mais de um mês de atividade, nota-se que o comportamento da CPI corrobora a tendência oposicionista apresentada pelos membros titulares da comissão em plenário. O processo de trabalho desenvolvido até então, incluindo a aprovação de requerimentos, a convocação de testemunhas e a preparação da inquirição, assim como os resultados parciais já alcançados, fazem sobressair as críticas à gestão do governo na pandemia. Essa é uma clara sinalização do relatório que estará por vir. Neste início de 2021, portanto, há indícios de que Senado e Câmara inverteram papéis no que diz respeito à relação com o governo. Enquanto a câmara baixa, sob a liderança de Arthur Lira (PP-AL), apresenta-se mais politicamente alinhada ao Planalto, o Senado manifesta comportamento mais crítico e confrontacionista à agenda governamental. O que estaria por trás dessa mudança?
3. Por que o Senado?
Para entendermos essa mudança em um quadro mais amplo, é importante, de início, observar a evolução dos índices de apoio ao governo em votações nas duas casas. Os gráficos 2 e 3 mostram essa trajetória do início da legislatura até maio de 2021, na Câmara e no Senado, respectivamente. Neles, podemos observar que, apesar das variações circunstanciais, o governo tem mantido em média um apoio superior a 50% dos parlamentares nas duas casas, mesmo em 2021.
Gráfico 2. Apoio ao governo em votações na Câmara
Gráfico 3. Apoio ao governo em votações na Senado
No entanto, dois pontos chamam atenção. Em primeiro lugar, há dois momentos em que a média de apoio ao governo no Senado se aproximou bastante do limiar dos 50%: em setembro de 2020, e, novamente, em março e abril de 2021, precisamente quando a CPI foi instalada. Em segundo lugar, vale notar que a quantidade de votações que alcançaram apoio de menos de 50% da casa cresce a partir do segundo semestre de 2020, o que pode indicar um crescimento no número de parlamentares dispostos a contrariar o governo. Na Câmara, ainda que as votações com apoio minoritário já fossem relativamente mais frequentes, o movimento ocorreu no sentido contrário, com um número menor de votações em que o governo não obteve maioria no ano de 2021 comparativamente aos anteriores. Durante todo o período, o Senado apresentou uma taxa de governismo menor do que a Câmara, sem mudanças muito significativas nos últimos dois semestres. Entretanto, é notória a guinada oposicionista dos senadores nos últimos meses, inclusive com a instalação de uma CPI de atuação eminentemente contrária ao governo. O que estaria por trás dessa mudança de humor na virada do ano?
Um aspecto central no Senado foram os acordos para a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência da casa, em um processo notoriamente distinto daquele que caracterizou a escolha de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara. Neste segundo caso, o governo interveio de maneira determinante para esvaziar a candidatura competitiva de Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo antigo presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) e pela oposição de esquerda. A candidatura de Lira representa uma adesão ao governo que não teria sido possível sem que os partidos do denominado “Centrão” tivessem sido recompensados pelo Planalto com cargos e emendas orçamentárias. Do ponto de vista da relação formal entre o Executivo e o Legislativo, representa uma ruptura com a postura relativamente mais autônoma que caracterizou a presidência de Maia.
No Senado, diferentemente, observou-se a formação de um bloco majoritário pluripartidário, mas diverso ideologicamente, que incluiu partidos governistas e de oposição, como o PT. Não se tratou, portanto, de uma coalizão programática, mas de uma coalizão de veto à candidatura de Simone Tebet (MDB-MS), considerada por muitos como uma defensora da operação Lava-Jato. A candidatura de Pacheco, desse modo, conformou um bloco majoritário que tinha o objetivo claro de confrontar o voluntarismo judiciarista, que ao longo dos últimos anos engendrou esforços para criminalizar a política e deslegitimar o sistema político de representação. Ou seja, Pacheco deveu sua eleição mais aos acordos que fez entre seus pares do que à intervenção governamental, o que confere ao bloco majoritário no Senado maior autonomia em relação ao Planalto, mesmo que nele a esquerda seja minoritária.
Um segundo aspecto a ser considerado diz respeito ao debate sobre o orçamento de 2021. A participação da Câmara e do Senado na construção de uma peça orçamentária inexequível, que desconsiderava inclusive a necessidade de cobertura de despesas compulsórias, colocou as duas casas legislativas em rota de colisão com o governo. A reversão desse quadro impôs custos maiores ao Senado do que à Câmara – fator que não deve ser desconsiderado no ânimo dos senadores em 2021. É possível que o episódio tenha reafirmado a liderança de Pacheco no Senado e sua interlocução com todos os partidos da casa, inclusive aqueles de oposição, em detrimento de seu diálogo com o governo.
Exploramos também uma terceira hipótese, que tem a ver com a maior predisposição do Senado ao oposicionismo, quando comparado à Câmara. Essa hipótese se baseia em: a) a casa é mais sensível aos governadores do que a Câmara dos Deputados, de modo que o conflito entre estados e União pode ter afetado o comportamento dos senadores; e b) a região Nordeste tem maior peso no Senado, pela distribuição igualitária da representação entre os estados. Como a região conta com governadores da oposição, notavelmente do PT e do PSB, e apresenta altas taxas de rejeição a Bolsonaro, é possível que o peso da bancada nordestina potencialize as ações da oposição no Senado.
Os gráficos 4 e 5 mostram o alinhamento de deputados e senadores em votações nominais por região e a dispersão dos parlamentares, apontando assim maior ou menor homogeneidade do comportamento em cada região. É possível observar na primeira figura que o governismo na Câmara dos Deputados é relativamente bem distribuído em todas as regiões. Há, em todas elas, um bloco governista majoritário bastante concentrado e uma oposição minoritária mais dispersa no espectro. Ainda assim, o governismo na região Nordeste é ligeiramente menor, o que possivelmente resulta da maior força dos partidos de esquerda nessas regiões, principalmente PT, PSB e PDT.
Gráfico 4. Alinhamento de Deputados(as) em votações, por região.
No Senado, diferentemente da Câmara, não é possível observar um bloco governista maciço distribuído homogeneamente em todas as regiões. Pelo contrário, há significativa dispersão em todas elas.
Gráfico 5. Alinhamento de Senadores(as) em votações, por região.
4. Efeitos possíveis da CPI na relação com o Executivo e nas eleições de 2022
Os termos que serão usados no relatório final da comissão ainda não são conhecidos e dependerão da estratégia a ser adotada pelos senadores oposicionistas, que hoje dão o tom da CPI. Entretanto, é provável que ele seja francamente contrário ao governo. Menos certo, no entanto, são os desdobramentos que esse relatório produzirá no contexto político mais amplo. Nesta seção aventamos três cenários possíveis e analisamos a probabilidade de se concretizarem.
O primeiro caminho possível é o relatório apontar a ocorrência de crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, com pedido de abertura de um processo de impeachment. Esse cenário parece bastante improvável nas condições atuais. Mesmo que a comissão consiga elementos para responsabilizar o presidente – o que parece bastante plausível – o impeachment é um processo político e não existem hoje condições para isso, a despeito da diminuição do apoio dos senadores ao presidente. Bolsonaro ainda mantém um patamar relativamente alto de popularidade e aprovação de seu governo, em que pese o fato de ser superado pela sua rejeição. E é muito improvável que Arthur Lira (PP-AL), o presidente da Câmara, aceite pedido de abertura de impeachment e dê início ao processo – um dos compromissos que ele assumiu junto ao governo para garantia de seu apoio foi justamente não permitir a instalação de processos de impeachment contra Bolsonaro.
Um segundo cenário possível seria aquele de responsabilização futura do presidente, após o término de seu mandato, e/ou de outros agentes públicos, a exemplo do general Eduardo Pazuello, seja pelo cometimento de atos de improbidade administrativa, ou mesmo na esfera penal. Esse desdobramento poderia ser usado pelas oposições e pelo Judiciário para inibir o retorno do bolsonarismo no médio prazo. Embora esse cenário não seja tão improvável quanto o anterior, é também muito incerto e dependente de outras variáveis, tais como: comportamento dos atores em posições-chave nos órgãos judiciários (STF, Procuradoria Geral da República), posicionamento das Forças Armadas e resultado eleitoral de 2022. No caso de o presidente Jair Bolsonaro vencer as próximas eleições, por exemplo, esse cenário fica ainda mais remoto. Mesmo em caso de derrota, o apoio que o presidente tem recebido dos militares e a atuação defensiva do Procurador Geral da República são fatores que tornam esse caminho inesperável.
Por fim, uma terceira possibilidade, essa bastante provável, é a de a CPI manter vivo o tema da pandemia ao menos até o fim do ano, mesmo em caso de arrefecimento dos números de contaminações e mortes. A CPI e o seu relatório têm poder para potencializar uma narrativa francamente desfavorável a Bolsonaro, de responsabilização do governo pela situação catastrófica do país na pandemia, com potencial impacto nas eleições de 2022. Esse parece ser o desfecho temido por Bolsonaro e já representaria ganhos relativos para a oposição. Em outras palavras, a CPI certamente ameaça o campo bolsonarista, mesmo nesse cenário mais ameno que mira a eleição de 2022, particularmente porque o presidente já enfrenta queda de popularidade.
Metodologia
Para elaborar este boletim, extraímos e sistematizamos dados relativos a votações nominais dos Portais de Dados Abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa informação foi utilizada para elaboração de dois indicadores: a) índice de alinhamento individual do parlamentar ao governo; b) taxa agregada de apoio recebido pelo governo.
O índice de alinhamento foi produzido na esteira de outros rankings de governismo do OLB. Primeiro, coletamos informações sobre todas as votações nominais, quando parlamentares têm seus votos registrados em plenário, ao longo do ano da atual legislatura. Em uma segunda etapa, excluímos votações que não tiveram conflito, isto é, votações nas quais não houve sequer 2% de parlamentares que votaram contrários à maioria vencedora. Com os dados organizados, implementamos o algoritmo Ideal, que extrai dimensões latentes a partir dos dados de votação com uma abordagem bayesiana. Nesse processo, o algoritmo encontra quais dimensões explicam a maior parte da variação nos resultados das votações. Em nossa aplicação, utilizamos a dimensão com maior poder explicativo, a qual interpretamos como sendo governo-oposição. Para facilitar a visualização dos resultados, transformamos os scores para o intervalo de 0 a 10.
Já a taxa agregada de apoio ao governo é medida como o percentual de votos que segue a orientação da liderança do governo. Na Câmara dos Deputados, utilizamos apenas as votações em que há orientação do líder. No Senado, como essa informação não é registrada nos dados abertos, adotamos o voto do líder do governo como proxy de sua orientação. Na ausência de voto do líder, utilizamos o vice-líder como referência e, finalmente, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Quando nenhum desses três senadores participou, a votação não foi considerada. Para ambas as casas, foram excluídas as votações consensuais. O apoio ao governo é, portanto, uma medida que vai de 0 a 100.
[1] No caso do Congresso, ⅓ dos membros da Câmara mais um ⅓ dos membros do Senado.
Ciências Sociais Articuladas – O que esperar da reforma administrativa?
Postado por OLB em 26/jun/2021 - Sem Comentários
1. Apresentação
Em setembro de 2020, o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa via emenda constitucional (a PEC 32/2020), fruto das mudanças pretendidas pela equipe econômica na forma de organização de atividades de Estado. Apesar de ser uma das promessas do Ministro Paulo Guedes desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, apenas ao fim do segundo ano de governo ela foi enviada à Câmara, permanecendo sem movimentação ou destaque entre os parlamentares até recentemente. Isso se explica por algumas razões: a desarticulação e os conflitos internos ao Planalto; a priorização pelo Congresso, em 2020, de uma agenda legislativa de enfrentamento à pandemia de Covid-19; e, mais importante, a eleição de Arthur Lira (PP) para a presidência da Câmara dos Deputados. Ainda que o ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), manifestasse apoio a essa pauta do governo, a liderança do atual presidente é sem dúvida mais alinhada ao governo e à sua agenda, especialmente após diversas concessões feitas ao Centrão quando da definição do orçamento de 2021.
A reforma almejada pelo governo tem impacto profundo sobre os servidores e a prestação dos serviços públicos. Com parecer de admissibilidade aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara em 25 de maio, a proposta seguirá para a análise de uma Comissão Especial antes de ser votada no plenário e posteriormente encaminhada ao Senado. Entender a sua natureza, os seus efeitos e o comportamento dos deputados até então é tarefa importante para antecipar posições de plenário na Câmara, bem como possibilidades de avanços e retrocessos no Senado.
Este relatório divide-se nas seguintes seções, além desta apresentação.
2. A PEC 32/2020
A Proposta de Emenda à Constituição representa a Fase I da chamada “Nova Administração Pública” e atinge duas importantes dimensões do funcionamento do Estado brasileiro: a organização administrativa e os trabalhadores do setor público. Para os servidores e empregados públicos, o governo propõe mudanças em questões fundamentais como seleção, vínculo, estabilidade, direitos e remuneração. Na organização administrativa, destaca-se a proposta de transferência de atividades públicas para o setor privado e a criação de instrumentos e poderes centralizados na Presidência da República.
Os novos servidores são o alvo principal da PEC, que pretende garantir aos antigos a maior parte dos direitos previstos na Constituição e benefícios hoje já praticados. Também estão excluídas da sua abrangência as seguintes carreiras: parlamentares, ministros de tribunais superiores, desembargadores, promotores, procuradores, juízes e militares. É bom lembrar, no entanto, que situações posteriores de expressiva assimetria entre servidores novos e antigos podem vir a suscitar novas mudanças na legislação e submeter os antigos a novas regras. Além disso, várias das mudanças propostas terão aplicação imediata e afetarão o trabalho e a vida funcional dos atuais servidores, inclusive a ampliação de situações que podem ensejar a perda de cargo.
2.1 Seleção, vínculo, direitos e remuneração
Para contratação de novos servidores, a PEC 32 sugere cinco novos tipos de vínculos com a administração pública: vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. O vínculo de experiência, contudo, tem característica diferente dos demais, já que consistirá em etapa avaliativa do concurso público para dois cargos específicos: vínculo por tempo indeterminado e cargo típico de Estado. Ou seja, os servidores concorrentes para esses dois cargos passarão pelo vínculo de experiência por um e dois anos, respectivamente, para então, em caso de efetiva aprovação, posterior cumprimento de 1 ano de estágio probatório, conforme atualmente já previsto.
A contratação por prazo determinado, por sua vez, poderá ser feita mediante seleção simplificada se houver necessidade decorrente de situações de emergência e calamidade, paralisação de atividades essenciais/acúmulo transitório de serviço ou se forem previstas atividades sazonais, temporárias e sob demanda. Abre-se, portanto, um leque maior de oportunidades para contratações por prazo determinado, tornando esse tipo de vínculo praticamente uma liberalidade do gestor. Atenção especial deve ser dada à possibilidade de contratação temporária em caso de paralisações – fator que passará a exercer pressão sobre movimentos grevistas.
Cabe ainda mencionar mudanças expressivas no que diz respeito à contratação para cargos de liderança e assessoramento. Esses cargos são equivalentes aos cargos comissionados e às funções gratificadas hoje existentes, parcialmente ocupados por servidores públicos por obrigação legal. Se a reforma administrativa for aprovada tal qual proposta pelo governo, os cargos de liderança e assessoramento podem vir a ser ocupados por quaisquer cidadãos que atendam aos requisitos exigidos, e estarão estendidos a posições com atribuições estratégicas e gerenciais, mas também técnicas. O uso de cargos de confiança para o exercício de atividades técnicas amplia as chances de contratação sem concurso público, ainda que haja a ressalva de que a quantidade máxima de cargos desse tipo deve ser limitada por lei complementar a ser editada futuramente.
A estabilidade no cargo, tal como consagrada no atual modelo e fundamental à garantia de continuidade das atividades estatais, estará reservada única e exclusivamente aos servidores com cargo típico de Estado, ou seja, àqueles que exercem atividades exclusivamente públicas e indispensáveis. Não há, ainda, indicação de quais carreiras devem se enquadrar nessa definição na PEC. Essa indicação será igualmente feita em legislação posterior. A expectativa é que esta espécie de cargo estará restrita exclusivamente às atribuições cujo exercício é vedado à iniciativa privada e especialmente relacionadas às áreas de fiscalização e de segurança pública. Ou seja, é bastante provável que o governo não pretenda classificar os trabalhadores da saúde, educação, Ciência & Tecnologia nesta categoria.
Para demissão dos novos servidores, também está previsto tratamento diferenciado para cargos típicos de Estado e servidores contratados por prazo indeterminado. No primeiro caso, mantêm-se as regras atuais (por processo administrativo disciplinar, decisão judicial transitada em julgado e insuficiência de desempenho), mas acresce-se a possibilidade de demissão por decisão judicial colegiada de segunda instância, sem necessidade de que tenha havido trânsito em julgado do processo. Para os contratados por prazo indeterminado, outras hipóteses poderão, inclusive, justificar a demissão, desde que aprovadas em lei pelo Congresso.
Do ponto de vista de direitos e remuneração, aos novos servidores também estarão vedadas algumas conquistas dos antigos. Adicionais, promoções e licenças por tempo de serviço serão extintos pela reforma proposta, assim como a possibilidade de reajustes salariais retroativos. Também não será mais possível conceder férias por período superior a trinta dias durante o período aquisitivo de um ano (o que atinge diretamente os docentes do magistério federal, hoje com 45 dias de férias anuais), reduzir a jornada de trabalho do servidor sem correspondente redução de sua remuneração, exceto por questões de saúde, e conceder aposentadoria compulsória como forma de punição. Proíbe-se, além disso, a incorporação ao salário de quaisquer valores porventura recebidos pelo servidor quando do exercício de cargos e funções temporárias. Embora grande parte das vantagens remuneratórias vedadas pela PEC já não exista no serviço público federal, muitos estados e municípios ainda prevêem pagamentos do gênero, como licenças-prêmio e triênios.
2.2 Contratos com a iniciativa privada e reorganização administrativa
Atualmente, a Administração Pública já dispõe de vários instrumentos para transferir a execução de determinados serviços públicos ao setor privado, seja por meio de concessões, permissões, autorizações, parcerias público-privadas, ou mesmo, no caso de atividades de natureza social, por meio de contratos com organizações que, em geral, não têm fins lucrativos. Além disso, a terceirização de atividades-meio é uma prática recorrente e já consolidada em diversos órgãos e entidades. Com a PEC 32, o governo pretende aumentar expressivamente a participação da iniciativa privada no serviço público, garantindo sua atuação em qualquer atividade, desde que não privativa de um cargo típico de Estado. Ademais, o texto prevê compartilhamento de estrutura física e de recursos humanos de particulares entre governo e iniciativa privada, inclusive sem contrapartida financeira. Os instrumentos de cooperação serão definidos posteriormente. Até que o sejam, no entanto, estados e municípios terão competência plena para estabelecer suas próprias regras.
No que toca à reorganização administrativa, a proposta original pretendia conferir poderes excessivos ao presidente, dando-lhe poder para criar e extinguir unilateralmente cargos, órgãos, ministérios, autarquias e fundações por meio de decreto, sem participação do Poder Legislativo em todos os casos. O parecer da CCJC, contudo, acolheu uma emenda saneadora que suprime esse dispositivo, tendo em vista o próprio risco que ele representa para o princípio de separação dos poderes e para o sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira.
3. Efeitos da reforma
A reforma administrativa atualmente proposta tem profundo impacto sobre o serviço público e não apenas sobre o conjunto dos servidores. Há risco de que, em função da perda de estabilidade dos profissionais e do aumento provável da rotatividade no setor, os serviços percam qualidade e continuidade. Além disso, a transferência de atividades para iniciativa privada abre margem para novos esquemas de corrupção e traz o risco adicional de eventuais cobranças pela execução de serviços prestados.
Do ponto de vista da máquina estatal, as mudanças tendem a aumentar a patronagem, ou seja, a possibilidade de uso dos cargos públicos como moeda de troca com parlamentares e partidos, na medida em que amplia a discricionariedade do governo na seleção e contratação de pessoal. A contratação via concurso público e a estabilidade do servidor são fatores que, até hoje, cumpriram justamente a função de desincentivar essa prática na gestão da coisa pública.
Para os novos servidores, a expectativa é de vagas mais escassas, remunerações mais baixas e carreiras eventualmente mais curtas. Um estudo do Dieese, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), aponta que a administração pública representava, em 2019, 50% ou mais no total de empregos formais em 38% dos municípios brasileiros. A reorganização do Estado tem impacto, portanto, na própria sustentação de inúmeras economias locais.
4. Movimentação no Congresso
A análise da PEC 32/2020 foi iniciada pela Câmara dos Deputados, com rito previsto no art. 202 do seu regimento interno, que se diferencia dos ritos de tramitação das demais proposições legislativas. Em resumo, a PEC é despachada pelo presidente da Mesa à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que deve se pronunciar sobre sua admissibilidade (ou seja, sobre sua adequação aos preceitos constitucionais, sem análise de mérito) no prazo máximo de cinco sessões. Em seguida, se admitida a proposta (a inadmissão garante recurso), o Presidente designa uma Comissão Especial para exame do mérito da proposta no prazo de 40 sessões.
O parecer da CCJC pela admissibilidade da proposta foi aprovado no último dia 25, com 3 emendas saneadoras. Uma delas suprime a possibilidade de extinção de cargos e órgãos via decreto, outra elimina a proibição para que servidores de cargos típicos de Estado exerçam outra atividade remunerada, e a terceira retira do texto da proposta alguns princípios motivadores do serviço público com o objetivo de evitar controvérsia jurídica. É importante ressaltar que as emendas de mérito à PEC devem ser apresentadas somente na Comissão Especial no decorrer das suas primeiras 10 sessões, garantido o apoio de 1/3 dos deputados ou líderes que os representem. É de se esperar, neste momento, um grande volume de emendas, já que a PEC é polêmica e conta com a oposição especialmente de partidos de esquerda. A votação na CCJC antecipa o caminho tortuoso que a proposta enfrentará em sua tramitação: houve dissidência em diversos partidos, inclusive da base aliada do governo, com a aprovação do parecer do relator por 39 votos contra 26. Além do placar apertado, a apreciação da PEC na CCJC contou com dois votos em separado, apresentando em documento formal as razões de contrariedade à Proposta, um subscrito pela Deputada Joenia Wapichana (Rede) e outro pelos parlamentares do PC do B Orlando Silva, Perpétua Almeida, Alice Portugal e Renildo Calheiros.
A Comissão Especial ainda não foi instalada. Somente depois de emitido o seu parecer é que a PEC seguirá para o plenário da Casa para aprovação, em dois turnos, com quórum de 3/5 dos deputados em ambos. Se aprovada, a matéria é remetida para a casa legislativa revisora, o Senado, onde será também avaliada pela CCJC, para posterior submissão ao plenário em regime similar ao previsto na Câmara.
5. Comportamento retórico dos deputados
De setembro de 2020 ao fim de maio de 2021, 64 dos 513 deputados e deputadas federais proferiram um total de 196 discursos em plenário sobre a reforma administrativa. A maior parte dos discursos, 54,5%, foi contrária à PEC 32/2020 e em 30% deles, o tom predominante foi favorável à reforma tal qual proposta pelo governo. Muitos dos discursos favoráveis tratam a reforma administrativa e a tributária como essenciais à modernização da administração pública e à superação da crise econômica vigente. Os discursos contrários enfatizaram os prejuízos para os servidores e para a qualidade do serviço público e teceram críticas contundentes à destinação de novos poderes ao presidente para extinguir, por decreto, quaisquer órgãos, autarquias, fundações etc. O artigo foi suprimido no parecer da CCJC.
Quadro 1.
Dos 21 partidos que discursaram sobre o tema, destacam-se o PT e o Novo com um maior volume de discursos – o primeiro com posição contrária à reforma e o segundo com posição favorável. Deputados e deputadas do PCdoB e PSOL também estiveram mobilizados pelo tema no período, conforme observado no gráfico abaixo. Nos três casos, as mensagens foram críticas à proposta governamental. Além do Novo, também parlamentares do PP, PSD, Republicanos, PSL e MDB manifestaram-se no plenário favoravelmente à PEC 32/2020 de forma significativa. Contudo, diferente do que ocorreu na oposição, que permaneceu alinhada, os discursos dos parlamentares do PSL, DEM e PSD não mostraram o mesmo grau de consenso. É importante ressaltar que isso não garante que haverá dissidência no momento da votação em plenário, embora sinalize desafio maior na construção de consensos intrapartidários, o que, de certa forma, pode prejudicar a aprovação da reforma nos termos em que está posta.
Gráfico 1. Discursos favoráveis e desfavoráveis à reforma administrativa por partido
Na defesa da proposta, sobressaem-se Paulo Ganime e Marcel van Hattem, ambos do Novo, Ricardo Barros (PP), Darci de Matos (PSD) e Silva Costa Filho (Republicanos). Os que discursaram mais vezes contra a PEC foram Erika Kokay e Rogério Correia, do PT, Alice Portugal (PCdoB), Talíria Petrone (PSOL) e Joenia Wapichana (Rede).
Gráfico 2. Deputados com discursos favoráveis à reforma administrativa
Gráfico 3. Deputados com discursos desfavoráveis à reforma administrativa
6. Pontos de destaque
- A reforma administrativa, proposta pelo governo por meio da PEC 32/2020, modifica processos de seleção e contratação dos profissionais, facilita demissões, restringe o direito à estabilidade a cargos típicos de Estado (a serem regulamentados posteriormente), cria um vínculo de experiência inicial que se soma ao estágio probatório já existente e rebaixa o patamar remuneratório dos servidores, com possíveis impactos na qualidade dos serviços públicos e na economia dos municípios menores. A reforma exclui, no entanto, parlamentares, ministros de tribunais superiores, desembargadores, promotores, procuradores, juízes e militares, e, para algumas situações, os servidores antigos. Se aprovada, vai alterar significativamente a forma pela qual o Estado se organiza hoje.
- Algumas mudanças específicas propostas, como o fim da estabilidade e a discricionariedade na criação de cargos de liderança e assessoramento, por exemplo, criam incentivos para o aprofundamento da patronagem na gestão pública.
- No cenário de não enquadramento das atividades docentes e científicas em cargos típicos de Estado, de ampliação das hipóteses de perda de cargo e de crescimento dos cargos de liderança e assessoramento, haverá potencial perda de autonomia e crescente direcionamento ideológico em Universidades e Instituições de Pesquisa.
- Do ponto de vista da parceria com a iniciativa privada, a extensão do compartilhamento de funções prevista na PEC gera risco de ineficiência, pode implicar aumento do custo dos serviços e abre novos caminhos para o desvio de verbas públicas.
- A intenção de se atribuir prerrogativa exclusiva ao presidente para extinguir órgãos, institutos, autarquias, fundações etc. (incluindo universidades federais) foi vetada pela CCJC, tendo sido objeto de vários discursos contrários à PEC. É sinal de que a aliança entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), não será suficiente para reduzir a Câmara a um comportamento carimbador.
- Dos 513 deputados e deputadas federais, apenas 64 trataram do assunto desde setembro de 2020. Como era de se esperar, partidos de esquerda são os que mais têm se posicionado na tribuna do plenário contrariamente à proposta da reforma, com destaque para o PT. O Novo é quem mais discursa favoravelmente ao tema, seguido pelo PP e pelo Republicanos. Parte da base aliada do governo vem divergindo no tom dos discursos, uns favoráveis à PEC e outros não, a exemplo do PSL, do DEM e do PSD.